Sobreposta à Terra Indígena Guyraroká, Fazenda Ipuitã é de professora da PUC-SP; governo federal pediu 180 dias para avançar na negociação
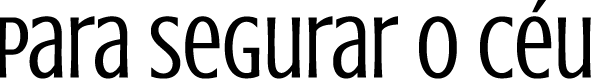
“Para segurar o céu” é uma série de reportagens que investiga e mapeia iniciativas produtivas e modos de vida de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, comunidades tradicionais e camponeses. Nas investigações, contamos como a contribuição desses povos para o meio ambiente faz parte de algo amplo e que essas formas de vida não são alternativas sistêmicas, mas soluções sistêmicas, que precisam ter centralidade na atuação governamental e da sociedade como um todo.
A retomada – ou ocupação – de uma área da Fazenda Ipuitã por indígenas Guarani e Kaiowá, com o objetivo de impedir a pulverização de agrotóxicos em mais um ciclo de plantio de soja, marcou uma nova escalada no conflito fundiário em Mato Grosso do Sul. Mais que isso, o desfecho das negociações envolvendo a Terra Indígena (TI) Guyraroká – declarada mas ainda não demarcada, sobreposta pela Ipuitã e outras 25 fazendas – tende a apontar os rumos de como o país conduzirá futuras disputas sobre territórios indígenas.
As cenas de confronto que se seguiram à retomada, feita pela comunidade em 20 de setembro, tomaram as redes sociais e a imprensa. Em uma delas, a tropa de choque da Polícia Militar (PM) avança sobre o terreno fazendo a escolta de uma pá carregadeira. Escudos perfilados pela força de segurança pública do governo de Eduardo Riedel (PP) abriram caminho para o plantio privado da soja na cidade de Caarapó (MS).
Em outra imagem, quando pela segunda vez indígenas ocuparam a sede da fazenda e foram reprimidos pela PM, registros aéreos captaram parte do imóvel e de um maquinário agrícola em chamas. Os Kaiowá alegam que as forças policiais começaram o incêndio, com o objetivo de criminalizá-los. Organizações ruralistas, como a Famasul, acusam os indígenas. Depois disso e de denúncias da brutalidade policial feitas por indígenas e indigenistas, o Tribunal Regional Federal (TRF) da 3a Região proibiu a presença da PM no território, determinando que a atribuição seja federal.
Neste início de dezembro, os barracos de lona seguem de pé na retomada, localizada em uma área contígua à aldeia de Guyraroká, que ocupa 50 dos 11.401 hectares delimitados como terra indígena. De lá, os Guarani e Kaiowá filmam pequenos aviões a poucas centenas de metros que, segundo eles, seguem despejando agrotóxico.

Enquanto isso corre o prazo de 180 dias, que vence em 21 de abril, para que, em meio a uma “trégua” mediada pelo governo federal, as negociações para a solução do conflito avancem. Neste meio tempo os indígenas plantam, na nova roça, variedades de abóbora, rama de mandioca, banana, melão, melancia, ingá, banana, mamão, arroz e feijão.
Embaixo da terra, as raízes das sementes nativas disputam espaço com a soja. Da mesma forma, metaforiza Erileide Domingues, uma das lideranças de Guyraroká, da superfície para cima “os indígenas lutam contra os fazendeiros para proteger a terra”. “Quem é mais resistente?”, questiona.
“Há dias a Força Nacional não aparece mais aqui. Pistoleiros em um carro branco vieram tentar cortar os pés de banana e chegou a ameaça de que pretendem capturar um de nós”, alerta Erileide.
Fazendeira é professora da PUC-SP
Proprietária da Fazenda Ipuitã, a publicitária Ana Claudia Mei de Oliveira é professora titular da pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Já a monocultura de soja fica a cargo da empresa Esperança Agricultura e Pecuária S/A, de Israel Borges, que arrenda a área da família Mei.
O imóvel dos Mei é apenas um dos que estão sobre a TI Guyraroká. Outro é do deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Uma terceira propriedade é do fazendeiro Avelino Antonio Donatti.
Foi justamente um recurso em mandado de segurança impetrado por Donatti o que fez com que o processo demarcatório de Guyraroká, quando já estava perto do fim, fosse interrompido. A posse permanente dos indígenas sobre os 11.401 hectares já havia sido declarada em portaria do Ministério da Justiça em 2009. Faltava apenas a homologação.
A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no entanto, deu decisão favorável ao latifundiário em 2014 e anulou o procedimento de demarcação da TI, com base na tese ruralista do marco temporal. A comunidade indígena não teve direito a se manifestar no processo: o pedido foi negado pelo ministro Gilmar Mendes.
Com base neste fato – de que o processo transcorreu sem a citação dos principais interessados – é que a comunidade indígena entrou com uma Ação Rescisória (n° 2686) pedindo a anulação da decisão. No último 27 de novembro completaram dois anos desde que o processo está parado na gaveta do revisor, o ministro Nunes Marques. O julgamento da ação é uma das principais demandas atuais de Guyraroká.
“Quando o meu avô iniciou o retorno a essa terra, de onde ele foi expulso, eu tinha 8 anos de idade. Hoje estou com 34. Então são cerca de 30 anos que estamos aguardando educadamente. Suportando. Estamos cansados”, descreve Erileide. Seus avós, Tito e Miguela Vilhalva, de 107 e 100 anos respectivamente, são lideranças históricas de Guyraroká.

A disputa dos rumos
O julgamento da Ação Rescisória e a reativação do rito demarcatório é o caminho defendido pela comunidade de Guyraroká, pela Aty Guasu (Grande Assembleia do povo Guarani e Kaiowá) e por entidades como o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Não é, no entanto, o único que está sendo aventado.
A compra de terras pelo Estado, com indenização a fazendeiros, tem sido ventilada de Brasília ao Mato Grosso do Sul. Esta via apareceu no voto do ministro Alexandre de Moraes em 2023, quando foi contra o marco temporal, mas propôs o pagamento a proprietários que ocupam área indígena “de boa fé”. Está, também, em projetos de lei da Frente Parlamentar Agropecuária, como o PL 4039/2024. Apareceu, agora, na voz do próprio deputado Zé Teixeira. Ao Campo Grande News, o fazendeiro disse que só sai da área sobreposta à TI Guyraroká “à força” ou com indenização de R$ 500 milhões.
Mais do que em bravatas ou documentos, a via saiu do papel há exatamente um ano, em uma espécie de piloto. A partir da mediação do gabinete do ministro Gilmar Mendes e depois da repercussão do assassinato do jovem indígena Neri Ramos pela PM, a TI Nhanderu Marangatu, na cidade de Antônio João (MS), foi demarcada.
O acordo inédito foi firmado em novembro de 2024 e garantiu uma indenização (repartida entre União e governo do Estado) de R$ 129,8 milhões aos fazendeiros Pio Queiroz e Roseli Ruiz, que preside o Sindicato Rural de Antônio João.
A advogada Luana Ruiz, filha de Roseli, representou juridicamente a família neste acordo. Em 2022, foi candidata a deputada federal pelo Mato Grosso do Sul pelo partido de Bolsonaro (PL). Atualmente é assessora especial da Casa Civil do governo Riedel. É Luana Ruiz quem, agora, advoga em nome da Fazenda Ipuitã.
Em resposta ao contato feito pela reportagem com as fazendeiras Ana Claudia e Luzia Mei de Oliveira, a posição foi externada justamente por Luana Ruiz. Segundo ela, “ainda que se alegue uma suposta luta por direitos, invasão e barbárie são crimes, e crimes não admitem qualquer forma de legitimação”.
Ruiz defende, ainda, que “não existe Terra Indígena Guyraroká”. “A demarcação foi objeto de processo judicial, analisada pelo Supremo Tribunal Federal, e a Suprema Corte decidiu – com trânsito em julgado – que não há posse tradicional indígena na região. Pode até haver reivindicação indígena, mas é ilegítima e infundada”.
De acordo com a advogada das proprietárias da Fazenda Ipuitã, “não houve pulverização [de agrotóxicos] na safra atual; as aplicações anteriores sempre respeitaram as normas; não existe prova de contaminação; e a faixa de 250 metros foi violada pelos próprios invasores, que já avançaram mais de dois quilômetros dentro da propriedade”.
Questionada sobre como veem a possibilidade de demarcação do território, Luana Ruiz diz considerar “juridicamente extremamente improvável”. Já para a aquisição da terra pelo Estado mediante indenização, a advogada reforça que “o diálogo sempre foi e sempre será o melhor caminho”, mas que “a negociação só pode ser cogitada após o recuo completo dos indígenas, desocupando a área invadida e restabelecendo-se a normalidade, a paz e a integridade da propriedade”.
O Joio tentou ainda contato com Israel Borges e Zé Teixeira, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. A reportagem também procurou o Escritório Cícero Costa Advogados Associados, representante de Avelino Donatti, sem retorno. Caso haja manifestação de qualquer uma das partes, o texto será atualizado.
Receba conteúdos exclusivos do Joio de graça no seu email
Sem consenso
Neste mês de novembro, Eloy Terena, secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), teria dito, segundo matéria do Correio do Estado, que o grupo interministerial criado para mediar casos como o de Guyraroká elaboraria propostas para que “sejam compradas terras em um modelo semelhante ao que ocorreu no município de Antônio João”. A declaração gerou polêmica.
Em resposta, a Comissão Nacional de Enfrentamento da Violência no Campo (CNEVC) que, também enquanto governo federal, coordenou uma comitiva ao MS para mediar as situações de Guyraroká e Passo Piraju, soltou uma nota. Nela, salientou que “em nenhum momento” a “compra de terras” foi discutida “como solução”.
A reportagem perguntou ao Ministério dos Povos Indígenas se a pasta está trabalhando para que o Estado compre a terra em disputa. Em nota, o MPI informou que integra um Grupo de Trabalho Técnico (GTT) com outros dois ministérios para “a elaboração de subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários” na região, “incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas”. Ao final do prazo de seis meses, afirmou a pasta chefiada pela ministra Sonia Guajajara, o GTT trará um “diagnóstico completo” e um “eventual plano de ação”.
O prazo de seis meses foi também apresentado pela CNEVC, depois de reuniões com indígenas, fazendeiros, PM e vice-governador, como uma proposta de “trégua” para negociações serem articuladas. Expressa pelo juiz Leador Machado, coordenador da comissão, a proposição é que os Kaiowá não avancem na retomada e os fazendeiros pulverizem agrotóxico a uma distância de 250 metros da comunidade.

“A gente prometeu 180 dias, estamos firmes e fortes na retomada, porém a gente não aceita negociação, não aceita compra de terras. Somente demarcação”, frisa Erileide. “Por que eles têm que pagar aos destruidores da natureza, da terra, aos desmatadores da floresta? Enquanto nós não temos nada?”, critica.
Para Matias Hampel, coordenador do Cimi no MS, “o desfecho de Guyraroká é definidor de como serão as demarcações, porque o Estado vai ter que demonstrar a que veio”. Em sua visão, há “boa intenção de uma parte do Executivo, mas esta que tem que travar uma luta interna contra instâncias que pegaram um caminho que parece ter vida própria. E que têm feito uma agenda via corredor de exportação do agronegócio”.
“Este é o grande desafio nestes seis meses”, destaca Hampel. “Se o Estado vai ter determinação e vontade política de avançar pelo caminho que garante segurança aos indígenas, destravando portas concretas para demais territórios que esperam a demarcação. Ou se vão prevalecer instâncias do governo que, por esse pacto com o agronegócio, propõem compra de terra”, pontua.
Esta segunda opção, para o coordenador do Cimi, representa a abertura de um “precedente perigoso”. “É uma inversão, porque torna a demarcação uma mercadoria, dificulta o acesso dos povos indígenas aos seus territórios, garante que o agronegócio só saia da terra se for onerado com recurso público. São questões inconstitucionais”, argumenta Hampel.
“Caso passem os 180 dias e não tenha resultado”, afirma Erileide Domingues, “quem vai decidir nossas estratégias não é governo, nem ninguém: somos nós, porque o Brasil é dos povos indígenas, muito antes de ser invadido. Nós, como comunidade e como nosso próprio movimento, vamos avançar na nossa autodemarcação”.
Terreiro dos pássaros
Guyraroká, em guarani kaiowá, significa “terreiro dos passarinhos”. Antes de virar pastagem de monocultura, o lugar juntava jacu, jaó, jacutinga, macuco, sabiá, maritaca, entre tantas outras aves, segundo conta o cacique Tito Vilhalva. “Eu conheço cada canto aqui”, resume o ancião de 107 anos.
Foi Tito que, ao longo de 22 dias, caminhou por todo o território junto com o antropólogo Levi Marques Pereira, responsável pelo Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) da TI.
“Eu nasci aqui. Iiiih, naquela época isso aqui era mata. Eu fui expulso dessa terra com a minha família. Nós saímos à bala. Foi entre 1938 e 1940, época do Getúlio [Vargas]”, relembra. “Sei que nós sofremos muito. Mais de 70 anos sofrendo. Deixemos a roça. Deixemos criação de porco. Em 1997, 1998, por aí, eu falei ‘vou morrer lá’. Vamos morrer, porque já estamos na guerra, né? Não temos nada”, relata Tito Vilhalva, que liderou, naquela época, o início da luta pelo retorno à terra onde nasceu.
“Nossa alma também chamamos de Guyra”, diz carta da comunidade entregue à CNEVC: “É como um pássaro interno”. Fazendo referência a quando, no último 17 de outubro, viaturas da PM aceleraram em “cavalinhos de pau” para cima de jovens Kaiowá, que pularam e esquivaram até serem atropelados, os indígenas citam como aprendem com os movimentos dos pássaros.
“Dançamos em frente aos agressores da polícia. Dispersamos, juntamos, fomos de novo, protegemos, separamos, juntamos… pela graça dos pássaros, sobrevivemos, por eles e não pelo Estado não fomos mortos”, diz a carta de Guyraroká. “Como eles, não temos escolha, preferimos a morte do que não ter nossa terra, pois sem nossa terra morremos”, afirmam os indígenas.

Mesmo com a idade avançada e certo pessimismo na fala, Tito Vilhalva insiste em tentar plantar, mesmo que a aldeia esteja sufocada pelos agrotóxicos. “Plantei feijão quatro, cinco vezes lá, morreu tudo. Milho também. Secou tudo. O avião passa bem aí, soltando veneno, parece uma chuvinha. O agrotóxico aqui não é brincadeira, não. Meu Deus do céu. Onde vamos arrancar mandioca? Um pézinho de batata. Dava batata grande assim ó”, o cacique gesticula com a mão: “mas tudo podre”.
“Então é assim que estamos. Agora precisa ir buscar mercadoria, cesta básica. Para poder viver. Senão vamos morrer de fome”, resume o ancião. “Então se já vamos morrer, então vamos para cima e segurar o agrotóxico. Eu acho que vai dar certo”, Tito comenta sobre a retomada recente. “Porque se não for assim, não vamos conseguir nada. Tem que ser na luta”.
Arma química jogada do céu
A CNEVC, composta por órgãos federais e coordenada pelo Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), constatou, segundo seu relatório, que o “uso de agrotóxicos nas proximidades das aldeias” assume “características de arma química”.
As reiteradas denúncias de contaminação feitas pelos indígenas resultaram em uma Ação Civil Pública, que busca exigir um perímetro mínimo de distância para que fazendeiros façam a pulverização aérea de agrotóxicos. A ação está em tramitação na 2ª Vara Federal de Dourados.
Para Erileide, no entanto, 250 metros de distância não resolvem. “O agrotóxico voa mais de mil metros. E onde chega, é desgraça”, diz, salientando ser comum os indígenas sofrerem de dores de cabeça, de barriga, diarreia, entre outros sintomas.
A contaminação de todas as águas de Guyraroká – da chuva, das torneiras vindas do poço artesiano e das nascentes – foi confirmada pela pesquisa Agrotóxicos e violações nos direitos à saúde e à soberania alimentar em comunidades Guarani Kaiowá.
O estudo foi realizado pelo Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Fiocruz, o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, a Embrapa Pantanal e o Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
As amostras foram colhidas entre 2021 e 2022, acompanhando o ciclo de plantio da soja, commodity mais cultivada no Brasil. De acordo com a pesquisa, é a cultura que mais usa agrotóxicos, concentrando 63% de tudo o que é aplicado no país.
Em Guyraroká foram encontrados 20 ingredientes ativos de agrotóxicos. Entre eles está a Atrazina, substância recentemente classificada como cancerígena por um grupo de 22 cientistas de 12 países (inclusive do Brasil) reunidos pela Agência Internacional de Pesquisas sobre Câncer (da sigla em inglês Iarc). As conclusões foram publicadas na revista The Lancet Oncology.
Na carta de Guyraroká à CNEVC, a comunidade elenca condicionantes para a espera de 180 dias. Entre elas está a recuperação das nascentes, rios e córregos “envenenados”. “O Carumbé, a tartaruga mandada pelos Jaras [encantados] para ser guardiã da mina, foi embora assustada pelo veneno. A ida de Carumbé fez nosso avô e Nhanderu ficar muito triste. Carumbé não protegia apenas a água, mas sim toda nossa comunidade”, explica a carta.
A comunidade demanda, ainda, a implantação de uma barreira de árvores nativas para conter o agrotóxico, investigação sobre a atuação da PM, mutirão para tirar a documentação das pessoas da comunidade, ações para lidar com a fome – já que as cestas básicas são consideradas insuficientes –, energia elétrica em toda a comunidade para que seja possível ter geladeira, entre outras. Até o momento, nenhuma das reivindicações foi atendida.
“Sem espaço, há muita desnutrição que tem infringido a cultura, pois a roça é nossa a cultura. Na roça cresce o nosso milho sagrado de onde todos saímos. É lá que o alimento e o sagrado deixam fortes nosso modo de ser, nossa sobrevivência, não só do corpo, mas espiritual. A espera tem nos levado à morte, e agora, para esperar mais 180 dias (6 longos meses), a mais que estes 30 anos, queremos o apoio e o entendimento de vocês para respeitar o que já é nossa retomada, porque ela para nós é inegociável”, ressalta a comunidade de Guyraroká.
O cacique Tito Vilhalva foi a Brasília em abril de 2024, quando se completaram 60 anos do golpe empresarial-militar brasileiro. Na ocasião, a Comissão de Anistia pediu desculpas, em nome do Estado, aos povos Krenak e Guarani Kaiowá pelos danos causados durante a ditadura.
“Esse Brasil aí, o Estado fez judiação com a nossa vida”, afirma Tito. “Mas o que significa pedir desculpa, né? Parece que nem mesmo eles acreditam. Porque o que tem que fazer é demarcar a terra e tirar o agrotóxico”, demanda.
“Todos nós, indígenas Kaiowá no MS, somos vistos pelo Estado como terroristas e criminosos. Mesmo que os terroristas e invasores sejam eles. O Estado pode fazer o que quiser com a gente, que é visto como normal”, constata Erileide Domingues. “Pois que perante a visão deles se normalize também nosso instrumento legítimo de luta: as retomadas”, defende.




