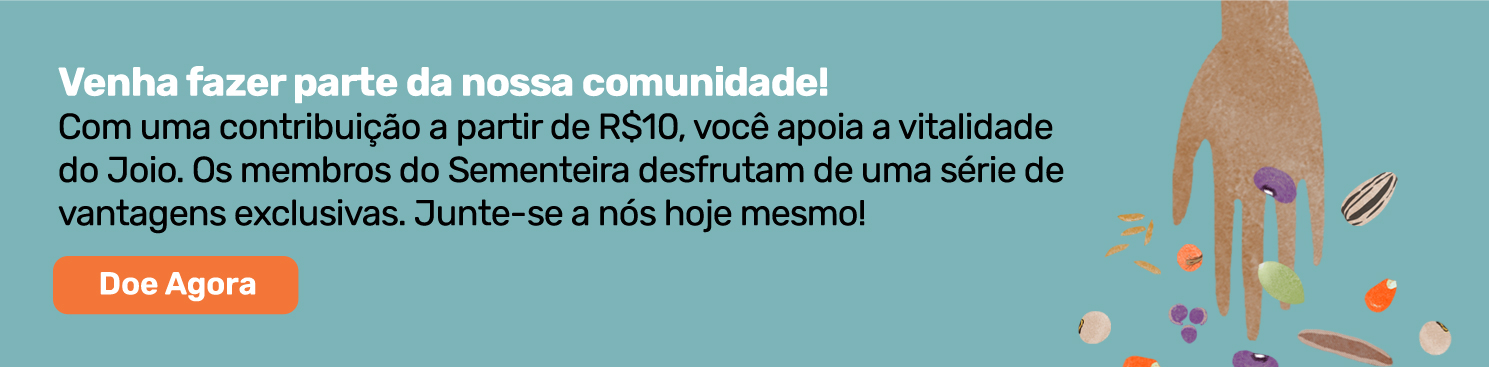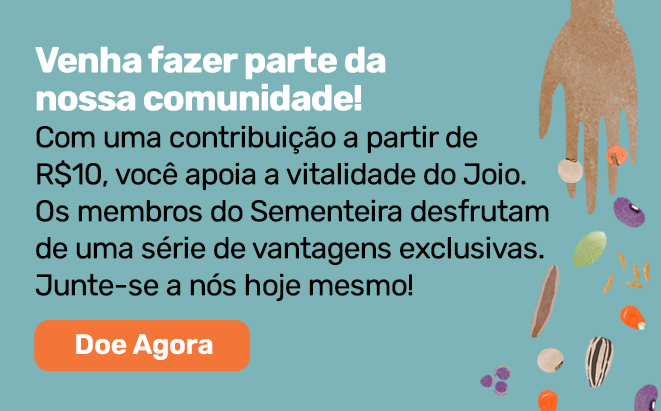Estratégia do governo contra a praga que vem se espalhando no norte da Amazônia levanta preocupações sobre erosão genética
Ramos secos e retorcidos. Caules cobertos por brotos finos e fracos. Folhas que perdem o verde e caem antes da hora. Assim age a vassoura-de-bruxa, doença fúngica detectada pela primeira vez em lavouras de mandioca no Brasil em março de 2023.
Avançando rápido e sem controle, a praga ameaça tanto a base alimentar dos Karipuna, Palikur-Arukwayene, Galibi Marworno e Galibi Kali’na quanto a herança genética que sustenta a diversidade do tubérculo na Amazônia.
Acredita-se que a mandioca-brava tenha sido domesticada há cerca de 9 mil anos. Evidências genéticas e arqueológicas apontam para a região do Alto Rio Madeira, no atual estado de Rondônia, como o berço desse processo.
Ao longo dos séculos, povos originários escolheram, planta a planta, aquelas que faziam menos mal. Assim, transformaram uma raiz venosa em alimento seguro quase sem necessidade de processamento.
Esse legado agora começa a se esgarçar. Antes da chegada do fungo ao Oiapoque, no extremo norte do Amapá, as roças guardavam 68 variedades do cultivo. A doença foi tão devastadora que apenas duas resistiram. E mesmo elas já mostram sinais de exaustão.
Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a morte descendente da mandioca – denominação técnica da doença que vem atingindo as lavouras – já atinge dez dos 16 municípios do estado. Também foram registradas duas ocorrências em Almeirim (PA). A infestação compromete a principal fonte de sustento e alimentação das famílias da região.
Vassoura-de-bruxa em números
1.247
Propriedades rurais inspecionadas
35
Com coleta de amostras para exames laboratoriais
49
Casos positivos confirmados
*Contagem atualizada em 31 de outubro
(Fonte: Painel da Vassoura-de-Bruxa da Mandioca/COE-Mapa)
Ainda assim, o reconhecimento oficial da emergência fitossanitária só veio em 30 de janeiro de 2025, quase dois anos após o registro do primeiro caso. A medida autoriza a adoção de ações excepcionais de prevenção, controle e contenção da doença.
A portaria que instituiu um Centro de Operações de Emergência Agropecuária (COE-Mapa) para o combate ao fungo Rhizoctonia theobromae também tardou a chegar. Criado em 14 de março deste ano, o mecanismo de articulação intergovernamental reúne 18 pastas e instituições públicas. Entre elas, estão o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai, vinculada ao Ministério da Saúde).
Apesar da composição plural, o arranjo não coloca as comunidades afetadas no centro das decisões. A reação à crise tem sido guiada por soluções técnicas e concentradas no topo, com menor ênfase no conhecimento local sobre manejo, tempo de plantio e diversidade varietal.
O próprio cânone científico demonstra o risco de manter essa lacuna aberta. Um estudo publicado na revista Science revelou que povos indígenas foram decisivos para a domesticação e a disseminação da mandioca nas Américas. Práticas como a troca de mudas entre aldeias, a seleção de plantas espontâneas e rituais agrícolas – como a casa do Kukurro, da etnia Waurá – ampliaram e preservaram a diversidade genética da espécie.
O trabalho de pesquisa
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) participa do COE-Mapa em caráter técnico e consultivo. Sua função é desenvolver métodos e tecnologias que auxiliem na vigilância e no manejo da doença.
A instituição trabalha com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). O repasse ocorre por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED) no valor de R$ 1,3 milhão. O dinheiro financia pesquisas e testes conduzidos com participação dos povos indígenas da região.
Em 2024, a Embrapa Amapá recebeu R$ 350 mil. Neste ano, o aporte foi de R$ 847 mil. Segundo a empresa, a atuação junto às comunidades foi autorizada pelas lideranças indígenas do Oiapoque.
O trabalho inclui testes com pesticidas químicos e biopesticidas disponíveis no mercado. Também prevê o resgate de variedades nativas que ainda sobrevivem em áreas não afetadas do Amapá. Além disso, busca identificar, por meio de genotipagem, o material genético existente. O intuito é desvendar como o fungo interage com a planta.
Nomes iguais, doenças diferentes
A vassoura-de-bruxa que devastou o cacau no sul da Bahia nos anos 1990 não é a mesma que hoje ameaça as lavouras de mandioca.
O nome, embora idêntico, descreve um sintoma visual: o superbrotamento – crescimento anormal de ramos finos que faz a planta parecer uma vassoura velha.
Como o termo passou a designar doenças causadas por fungos distintos, pesquisadores propõem usar outro nome, como morte descendente da mandioca, para evitar confusões.
O fitopatologista Saulo Oliveira, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, explica que nenhuma variedade de mandioca desenvolvida até agora mostrou tolerância: “O que há, por enquanto, são possíveis fontes de resistência, identificadas em plantas que conseguem chegar ao final do ciclo produtivo ou apresentar algum nível de tolerância, embora com produtividade baixa.”
Leva tempo para saber se uma variedade de mandioca realmente consegue resistir ao fungo. É preciso distinguir o que é resposta natural da planta do que é influência do ambiente. A resistência verdadeira vem do material genético — está “dentro” da planta. Já outras reações dependem de fatores externos, como tipo de solo, regime de chuvas e manejo da lavoura.
Conforme Oliveira, a Embrapa concentra seus esforços em duas linhas de atuação:
1. Controle químico
2. Controle biológico
O objetivo é desenvolver variedades de mandioca produtivas mesmo sob ataque da doença, em até cinco anos. O melhoramento genético costuma levar o dobro desse tempo, mas a equipe usa ferramentas de genética e bioinformática para acelerar o processo.
As plantas com potencial de resistência passam por análises genômicas e seleção por marcadores genéticos, para identificar genes ligados à tolerância e incorporá-los rapidamente em novas variedades.
Limite intrínseco
O Brasil conserva hoje cerca de 4 mil amostras de mandioca. Esses materais ficam guaradados em bancos ativos de germoplasma (BAGs) – cofres de biodiversidade que, em vez de dinheiro, armazenam sementes, raízes, tecidos e fragmentos que compõem o espólio da espécie.
Cada amostra equivale a um código genético mantido em reserva. A partir dela, cientistas podem recriar, estudar ou cruzar variedades em busca de plantas mais resistentes a pragas, períodos de seca e mudanças climáticas.
Mas guardar não é o mesmo que garantir o futuro. “Preservar uma variedade que já desapareceu das roças não significa que ela voltará a alimentar alguém um dia”, explica Alessandro Alves-Pereira, pesquisador em genética e melhoramento de plantas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq/USP).
Um mesmo genótipo pode demonstrar resistência em determinada região e perder essa característica em outra. É nesse ponto, diz o pesquisador, que ficam evidentes os limites dos bancos de manivas (parte das ramas ou hastes usada no plantio).
As amostras ali conservadas representam um retrato estático: ajudam a recuperar variedades perdidas e servem de apoio a pesquisas de melhoramento. Mas a diversidade funcional, aquela que se renova no uso cotidiano, não sobrevive em condição de estufa.
Esse tipo de acervo também custa caro. As amostras precisam ser preservadas, replantadas e acompanhadas de perto. Afinal, nenhuma planta é eterna. Soma-se a isso o fato de que parte da riqueza genética que existe nas comunidades nunca chegou a ser registrada. O que não é coletado a tempo, o tempo leva.
Questionado sobre a existência de dados ou estimativas sobre variedades de mandioca em risco de desaparecer, o melhorista Vanderlei Santos, curador do banco da Embrapa Mandioca e Fruticultura, afirmou “não conhecer nenhum dado a esse respeito”.
Ele também observou que a manutenção desses bancos é responsabilidade exclusiva da instituição, feita sem qualquer parceria com povos tradicionais. “A atualização ou ampliação do BAG ocorre de forma pontual, com a inclusão de acessos isolados. A limitação de recursos financeiros e humanos impede uma expansão mais ampla.”
Como a doença se espalha tão depressa
Alessandro Alves-Pereira destaca a combinação de fatores humanos e ecológicos.
Em sistemas tradicionais, as redes de troca de manivas entre famílias, comunidades e até estados são parte do cultivo – e também um vetor de patógenos quando o material já está contaminado.
Ao mesmo tempo, o manejo em pequenas clareiras na floresta, com alta umidade e sombreamento, cria microclimas favoráveis ao fungo.
Em um contexto de mudanças ambientais mais amplas, a dinâmica entre hospedeiros e patógenos tende a ficar mais imprevisível.
Risco do afunilamento
Diante da emergência, a estratégia mais óbvia é multiplicar as variedades que menos sofreram com a doença. Mas tudo tem um preço. Quando poucas linhagens passam a predominar, a diversidade cai – e, com ela, a capacidade do sistema de enfrentar novos estresses. “Ao limitar demais a escolha, o que se obtém é a uniformidade”, alerta Alves-Pereira.
Ele lembra que a biodiversidade da mandioca resulta, em parte, da prática de agricultores deixarem e testarem, de tempos em tempos, plantas oriundas de semente (quando há floração e cruzamento). É um caminho lento, mas que repõe variação genética ao longo das gerações. A pressa por soluções únicas, centralizadas, tende a operar na direção oposta.
A recomendação técnica de eliminar e queimar plantas doentes também tem um efeito colateral. Ao remover a planta, perde-se também o material de plantio do ciclo seguinte. “O que ocorre é uma redução imediata do estoque de variedades em cada família e na comunidade como um todo”, explica.

Outra camada do problema é logística e institucional. A mandioca está espalhada por quintais, roças de subsistência e áreas comerciais de pequeno porte em praticamente todo o país. Mapear onde está cada plantio e aplicar barreiras sanitárias preventivas é muito mais complexo do que em culturas concentradas e mecanizadas. O resultado, observa Alves-Pereira, é uma resposta “inevitavelmente mais reativa” – quando o sintoma já apareceu – e sujeita a subnotificação.
Além disso, as comunidades atingidas têm pouca margem financeira para adotar insumos, o que limita a difusão de certas soluções. Se houver programas públicos de produção e distribuição de manivas sadias, é possível recomeçar com mais segurança – mas, no curto prazo, “não teremos a diversidade que havia antes”.
De acordo com a Embrapa, a perda de uma variedade de mandioca não representa um risco grave à biodiversidade da espécie. O argumento se baseia no fato de a planta ter características biológicas que garantiriam ampla variabilidade genética, tanto nos bancos de germoplasma quanto nas lavouras.
Para Alessandro Alves-Pereira, no entanto, a erosão genética da mandioca deixou de ser uma hipótese. Já está acontecendo. “A redução abrupta que temos visto restringe o estoque genético local e torna os cultivos mais vulneráveis a novas doenças”, adiciona.
A pandemia das roças
Entre os quatro povos do Oiapoque, o cultivo sustenta muito mais que a alimentação diária. Dele vem a farinha, o beiju e o caxiri, mas também o dinheiro que circula nas aldeias. É com a venda da produção que se compra roupa, remédio, combustível, material escolar. Quando a mandioca morre, não falta apenas comida tradicional – falta tudo o que ela movimenta.
A perda da roça é também a perda de um espaço de transmissão de saberes. “Ouvimos muitos relatos, especialmente de mulheres, sobre o impacto direto disso na vida das famílias”, conta Renata Lod, vice-cacique e vice-coordenadora do Conselho de Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO). “Elas dizem: ‘Meu filho hoje não sabe mais flechar, minha filha não sabe cantar, não conhece certos rituais, porque a gente não tem mais a roça’.”
Ela reconhece ter havido tentativas de apoio. “Alguns órgãos investiram, sim, mas tivemos pouco retorno. Com base nos nossos próprios saberes, passamos a fazer experimentos e a retomar antigos rituais adormecidos.” Essas práticas, diz, trouxeram algum alento. “Certas roças voltaram a brotar, alguns rituais a acontecer. Ainda assim, nada compensa o tempo perdido.”
Para a liderança, a expressão “mudanças climáticas” pode ser recente, mas o fenômeno não é novidade para quem vive da terra. As estações se confundem, as chuvas e o verão perderam o compasso. O tempo das frutas, da pesca e até da desova dos animais já não segue o ritmo de antes. “A gente não é cientista, não tem diploma pra provar o que diz. É só o que vivemos, o que sentimos. Lá fora isso parece ter pouco valor, mas quem está aqui percebe essas mudanças na pele, todos os dias.”
Ela traça um paralelo com a pandemia. “Do mesmo jeito que a covid-19 surgiu longe daqui e acabou chegando até nós, essa praga também viaja com o mundo. O vento leva o que cura e o que adoce”, compara.
Origem remota
Segundo a Embrapa, o patógeno teve origem nas ilhas de Wallis e Futuna, no Pacífico. De lá, espalhou-se pelo Sudeste Asiático, atravessou o oceano e chegou à América do Sul.
Outras pragas também vieram de fora, como o greening dos citros, a sigatoka-negra da banana, a mosca-da-carambola, que ataca diversas frutas, e a gripe aviária.
O diálogo entre os povos indígenas e as instituições de pesquisa começou como um pedido de ajuda. “A gente bateu de porta em porta, no município, no Estado, em Brasília, nos ministérios”, lembra. Quando o apoio finalmente chegou, as roças já estavam devastadas.
Mais de 90% haviam se perdido, junto com variedades de maniva de grande valor simbólico e cultural. Ainda assim, o Conselho tenta manter a conversa aberta com os órgãos de pesquisa.
A comunicação, porém, nem sempre flui. “A gente lamenta porque é tudo dito com palavras muito técnicas”, comenta. “São pessoas formadas em outra lógica, distante da nossa.”
As equipes enviadas às aldeias também costumam ter atuação breve, restrita a visitas que não acompanham o tempo da comunidade. “Eles vêm, fazem o trabalho e acham que em alguns meses já vão colher resultado. Mas aqui as coisas levam o tempo que a terra pede.”
Nos territórios indígenas do Oiapoque, os testes com variedades trazidas dos bancos da Embrapa frustraram as expectativas. Segundo Renata, as manivas modificadas não resistiram à doença. “Foi um investimento enorme na compra dessas mudas. E nenhum retorno. Nenhuma dessas roças sobreviveu”, relata.
A decepção levou as comunidades a interromper parte da colaboração e a retomar os próprios métodos de cultivo. “Muitos desistiram dessa assistência e passaram a seguir os conhecimentos tradicionais”, explica. Nessas experiências, as variedades brancas mostraram maior resistência – ainda que a diversidade original tenha sido drasticamente reduzida.
A fala de Renata contrasta com o discurso da Embrapa, que sustenta que a perda genética não representa risco significativo, uma vez que as variedades poderiam ser reproduzidas em laboratório.
Para ela, essa visão ignora o valor cultural, simbólico e sensorial das variedades crioulas. “‘E o sabor? E a cura que aquilo traz?’, perguntam os mais antigos ao ouvir que as plantas poderiam ser recriadas. Cada mandioca é um remédio”, explica a vice-cacique.
No fundo, perde-se o elo entre o alimento, o território e a memória coletiva. “A goma não vai ser a mesma coisa, a farinha não vai ter o mesmo sabor, não vai ter a mesma textura”, resume Renata. “Não seria surpresa se um ancião se recusasse a comer.”
Há ainda o problema da demora. O governo federal teria começado a agir depois que a praga começou a atingir produtores de outras regiões. “Essas portarias e manifestações só vieram quando a doença já estava se espalhando. Já não era mais só o povo indígena pedindo socorro.”
A mandioca é central na segurança alimentar, mas invisível na agenda econômica. É uma cultura associada a populações indígenas, quilombolas e agricultores familiares.

Setores exportadores em geral podem contar com planos de contingência e protocolos internacionais prontos. Foi o que aconteceu quando uma granja comercial na cidade de Montenegro (RS) detectou animais contaminados com gripe aviária. O governo colocou em ação o Plano de Contingência Nacional do Setor Saúde para Influenza Aviária para evitar que as exportações brasileiras fossem afetadas. Um crédito de R$ 200 milhões foi colocado à disposição do Ministério da Agricultura e Pecuária para o combate à doença, valor que não contabiliza investimentos regionais.
Já cultivos de base alimentar dependem de respostas ad hoc – ou seja, improvisadas conforme a crise avança.
Entre as medidas propostas por órgãos de pesquisa e assistência técnica, algumas geraram desconforto no município de Oiapoque. Uma das mais controversas foi a ideia de abrir roças por meio de maquinário pesado, apresentada no ano passado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) em parceria com a Embrapa.
A proposta dividiu as comunidades. Aqueles que vivem próximos à BR-156, a única via terrestre que liga o estado ao restante do Brasil, chegaram a apoiar a iniciativa. Já os grupos que vivem às margens dos rios rejeitaram a medida. “Para a gente abrir uma roça, é preciso ter toda uma preparação, tanto da pessoa quanto do terreno”, explica Renata.
O impasse foi superado quando o CCPIO reafirmou o compromisso com seus modos de cultivo. “A gente não pode simplesmente abrir mão daquilo que é a nossa crença.”
Renata contesta a versão de que a ausência de técnicos se deve à falta de autorizações para entrada nas terras indígenas. “Nunca negamos autorização, muito pelo contrário. Sempre pedimos que viessem, que estivessem com a gente.”
O problema estaria na falta de coordenação entre as próprias instituições. “Existe uma briga de egos entre os órgãos – SDR, Embrapa, Rurap. Cada um quer aparecer, mostrar serviço, em vez de somar esforços.”
A vassoura-de-bruxa acendeu um alerta que vai além do controle de uma praga. As decisões tomadas agora, sobre o que multiplicar, onde e como, podem definir o desenho genético e cultural da mandioca por muitos anos.
“A erosão genética já se instalou em várias áreas”, afirma Alessandro Alves-Oliveira. O desafio é conter a doença sem sacrificar a diversidade que sustenta o cultivo.