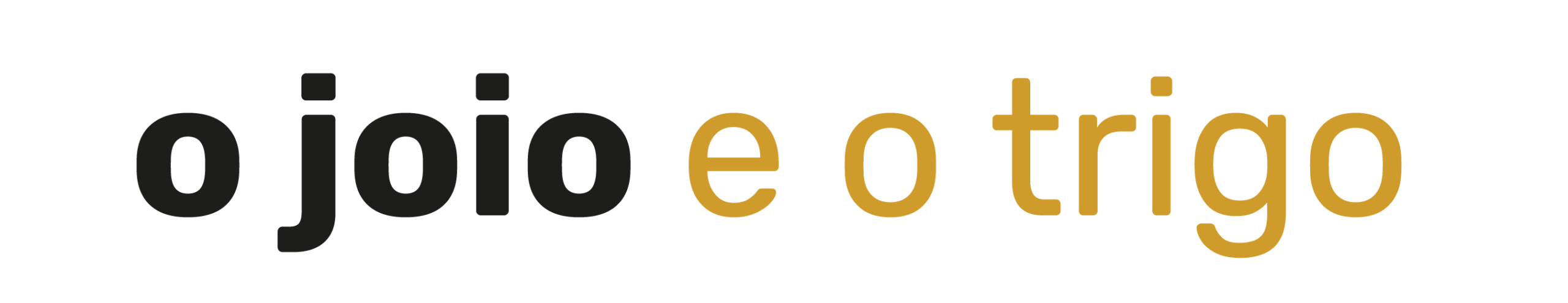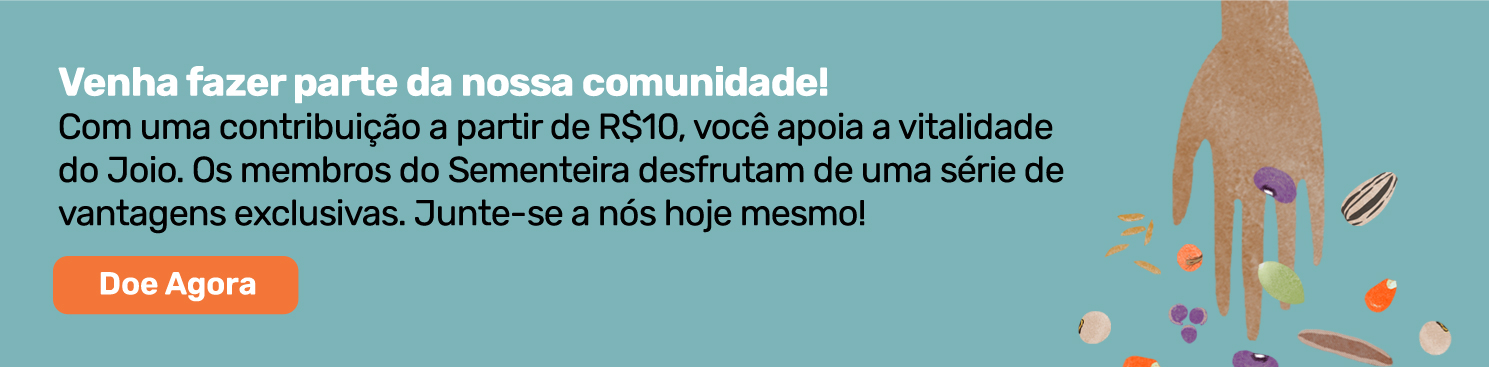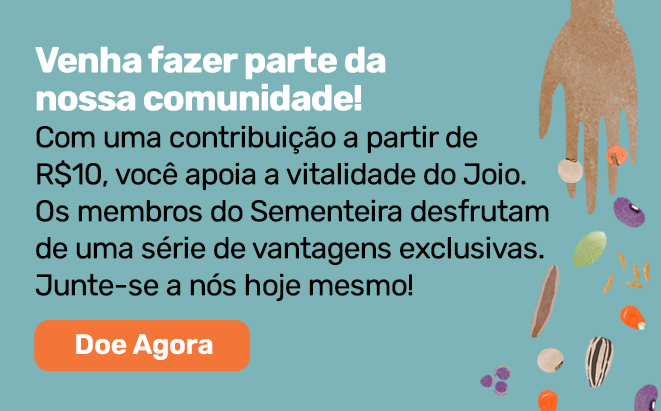Guardiães da mandioca braba, os povos indígenas do rio Negro mostram como justiça socioambiental e segurança alimentar são indissociáveis
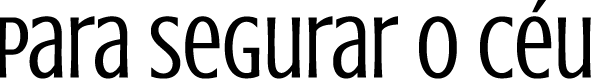
“Para segurar o céu” é uma série de reportagens que investiga e mapeia iniciativas produtivas e modos de vida de povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, comunidades tradicionais e camponeses. Nas investigações, contamos como a contribuição desses povos para o meio ambiente faz parte de algo amplo e que essas formas de vida não são alternativas sistêmicas, mas soluções sistêmicas, que precisam ter centralidade na atuação governamental e da sociedade como um todo.
“A maniva também é uma vida. Faz parte das nossas vidas. Não pode queimar no fogo porque a maniva também chora”, diz Rosa Marques Lima, de 63 anos. Falando no idioma original do povo Tuyuka, ela conta com a tradução da filha para o português enquanto explica sobre a origem da mandioca. Maniva é a rama feita com o próprio caule da mandioca. Cortada no tamanho de um palmo e fincada na terra em diagonal, ela cresce para cima, dando novas ramas, e para baixo, dando a raiz da mandioca.
“Ela sempre foi nossa parceira, nossa amiga. Se a gente não cuidar, ela não se acostuma com a gente. Ela vai dar um jeito de sumir. Tem que conversar com ela. Então, a maniva vai se acostumando com a pessoa. Vai permanecer sempre.”
Estamos em São Gabriel da Cachoeira, município do Amazonas situado na margem norte do rio Negro. Os Tuyuka são um entre 24 povos indígenas que habitam essa região. A família de dona Rosa mora na zona urbana.
Na manhã seguinte, em um domingo de maio, o irmão Cipriano Marques Lima me oferece uma explicação adicional: as manivas são seres vivos que fazem parte dos membros do corpo. Queimá-las seria como queimar a nós mesmos – e pode ser que, de fato, essa queima desencadeie uma dor física. Além disso, as manivas têm famílias. Eliminá-las significa deixar os filhos sem pai nem mãe. Uma crueldade, o que reforça como as manivas são um intenso objeto de troca entre os povos e as comunidades, rendendo filhos e netos e bisnetos.
Entre a maioria dos povos indígenas; naquilo que se seguiu a isso, como as culturas geraizeiras, beiradeiras, quilombolas e de outros povos tradicionais; a mandioca e o milho são os alicerces da alimentação e da cultura brasileiras. Em alguns casos, predomina o primeiro. Em outros, a segunda. E há ainda casos em que o reinado é compartilhado.
A diferença é que o milho foi dominado na forma de transgênicos, fertilizantes químicos e venenos. Deu o azar de uma composição nutricional particularmente valorizada pela cultura branca ocidental. Talvez tenha tido a má sorte de se adaptar ao clima dos Estados Unidos, onde teve início um processo de erosão genética e perda de diversidade, o que fez do antigo imperador das Américas um subalterno a serviço da criação intensiva de animais e da indústria de ultraprocessados.

Mas a mandioca é outra história. Ela não se deixou amansar. Ninguém tem dúvida de quem é a rainha. É em torno dela que se estruturam a roça, a alimentação e a cultura. Tampouco se duvida que ela é braba – como digna brasileira, ela prefere a brabeza à braveza, e a língua portuguesa que lute. No país da soja, do milho e do boi, essa rainha insurgente teve de se refugiar nas cachoeiras do rio Negro. Ao longo de milhares de anos, essa região tem sido a guardiã da mandioca braba. E, é, hoje, o principal espaço de resistência de uma raiz que nos conta o passado, mas também nos promete o futuro.
Neste texto, quando falarmos em mandioca de forma genérica, estamos nos referindo à braba – ou amarga. O que diferencia mandioca braba e mandioca mansa é a quantidade de ácido cianídrico presente, e que confere o amargor. A raiz da braba não pode ser consumida com uma cozedura simples por causa do veneno que contém. É preciso realizar cozimentos longos para extrair o caldo, ou fermentação para extrair a farinha, a tapioca e vários derivados. Quando falarmos em macaxeira ou aipim, estamos nos referindo à mansa – ou doce. Essa é hoje a variedade mais comum no Brasil.
O rio Negro oferece uma das últimas demonstrações de como justiça socioambiental e segurança alimentar são indissociáveis. É uma espécie de exposição ao vivo e em tamanho real de como seria um país verdadeiramente próspero, e como ter um país próspero passa por ter uma população próspera – e não corporações que prosperam às custas das pessoas. Essa é, também, uma região que mostra como proteção do território caminha junto com a promoção da segurança alimentar e nutricional: quase 70% da área do rio Negro está em terras indígenas e unidades de conservação.
O povo do rio Negro é uma das últimas antíteses ao agronegócio. Um lugar onde não é preciso imaginar, mas apenas ver e apreender. Um povo que alimenta aos seus e aos outros sem lançar mão de fertilizantes, venenos e tratores. Sem cabeças de boi. Sem desmatamento. A quem diga que esse é um microcosmo que jamais funcionaria numa escala maior, a dimensão há de negar: os três municípios do Negro somam uma área suficiente para serem o nono estado brasileiro, à frente do Rio Grande do Sul.

Sem dicotomias
Logo cedo, naquele domingo, dona Rosa estava preparando curadá para ser servido na feira. É um beiju grande e macio, cortado em quatro partes na hora de servir e muito funcional para acompanhar os caldos que marcam as culturas desta região.
Há pouco mais de uma década, cansado de não contar com um bom espaço de comercialização na feira local, esse núcleo Tuyuka resolveu criar o próprio encontro, que acontece todos os domingos. Na origem, esse povo vem do Alto Rio Negro – no caso de dona Rosa, a família morava na região colombiana do rio Uaupés. É um galpão com telhado de zinco – uma herança da obra realizada ano passado pela prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, mas da qual os Tuyuka esperam se libertar em algum momento para restituir a cobertura de palha.
Os parentes mantêm roças no entorno que abastecem a feira e fornecem para compras públicas, como a alimentação escolar. Visitei a roça de uma das irmãs de dona Rosa, que, ao estar tão perto da cidade, é uma roça bem mais limitada do que aquelas que conheci rio Negro afora.
Naquele dia, sob o som altíssimo de ritmos indígenas e não indígenas, algumas famílias ofereciam maracujá do mato, curadá, tapioca com tucumã, carne de paca, caxiri de pupunha (uma bebida alcoólica fermentada). Antes das dez da manhã, eu já havia comido quinhapira, um prato de peixe cozido em uma água bem apimentada; caruru, uma folhagem preparada também com peixe; e mujeca, um ensopado de peixe bem viscoso por causa da goma de mandioca.

Saindo de lá, fomos caminhando até o morro da Boa Esperança, ponto mais alto da cidade. De cima, avista-se um único telhado de palha. Não é a casa de uma família indígena, e sim a cobertura da sede do Instituto Socioambiental (ISA), organização que atua nessa região há décadas. A maioria dos telhados é de amianto e zinco. A maioria das ruas é feita de lama com uma camada fina de cimento, além de calçadas totalmente despadronizadas. Nesse sentido, São Gabriel da Cachoeira é uma cidade amazônica como qualquer outra, com muitos problemas de planejamento e a contradição gritante da imposição de um modelo de arquitetura e urbanismo alheio à realidade local.
Ainda assim, é fácil se deixar envolver pela cidade amazônica. Difícil é explicar por quê. Talvez seja a abundância verde da floresta que circunda e entremeia as casas. Talvez, a linda diversidade de povos indígenas. Talvez, o sentimento de que se está num raro confim de mundo, um lugar verdadeiramente singular em meio a um século de pasteurização cultural da humanidade – aqui, nossa espécie fermentante e perigosa, mas também fascinante, parece menos cercada e tolhida.
Antipasteurização parece uma maneira justa de definir o caldo cultural de São Gabriel. Jesus chegou, e certamente teve um impacto brutal na maneira como praticamente todos esses povos interpretam o mundo, mas (ainda) não conseguiu impor a dicotomia com o diabo. Porque esses povos não são dicotômicos.
– Nós chamamos de seres invisíveis – Bete Morais, de 40 anos, começa a falar antes mesmo que o gravador seja ligado.
Estamos conversando sobre a importância daquilo que se sente, mas não se vê. Nessa região, nenhuma das pessoas entrevistadas falou em encantado, nome utilizado por povos indígenas de outros lugares. “Espíritos” ou “seres invisíveis” foram as designações mais comuns. Temos poucos minutos antes de uma palestra para crianças em uma escola localizada na periferia de São Gabriel. Ela, que é escritora e integrante do povo Tukano, veio conversar sobre os modos de vida tradicionais.
– As entidades que são protetoras da floresta ou que vivem ali estão em tudo: na floresta, na terra, nos animais, nos insetos. Então, muita coisa que acontece, por exemplo, com os insetos, são manifestações desses seres invisíveis. Esses seres funcionam em equilíbrio. Não é que sejam necessariamente bons ou ruins. Depende muito como a gente está se relacionando com as energias, com eles e com a própria natureza, porque eles também têm os seus lugares. Esse conhecimento para se conectar com o mundo invisível é muito de você se ouvir, porque ele vem de dentro. Meu avô sempre falava que parece complexo, mas essa conversa é muito mais simples. É você estar em contato com a natureza. A gente tem hoje essa questão de querer buscar a espiritualidade perfeita, que é acabada, mas ela não existe.
Gosto de pensar que a mandioca tenha culpa nessa visão não dicotômica. Aquilo que estrutura todas essas culturas é uma raiz venenosa e fatal, mas que, devidamente preparada e respeitada, revela-se generosa e saborosa. Uma raiz que passa por processos de fermentação no qual formas de vida combatidas pela cultura ocidental produzem uma transformação colaborativa – e invisível – da qual se beneficiam, tanto quanto beneficiam os humanos. É muita rebeldia coletiva numa planta só.

São Gabriel é uma das cidades mais indígenas do Brasil – 93% das pessoas se identificam como indígenas, distribuídas por 24 povos diferentes. Nas ruas, é preciso dar apenas alguns passos para escutar idiomas que não o português. O município reconhece oficialmente três deles: nheengatu (a chamada língua geral), tukano e baniwa, mas há pelo menos uma dezena de outros. No domingo de manhã, as bancas de peixes oferecem também enormes pedaços de jacarés, além de pacas e cotias.
Os povos da região compartilham uma origem comum. O início da vida se deu no lago de leite, ou rio de leite, onde hoje fica o Rio de Janeiro. Lá, o Avô do Universo promoveu o início de todos os povos do rio Negro. A cada um deles deu um presente, na intenção de convertê-los em humanos. E embarcou a todos numa cobra disfarçada de embarcação – a Cobra Canoa da Transformação. Seguindo o sol, eles chegaram ao rio Negro, onde cada um foi desembarcando em um determinado lugar. O homem branco também desceu, de espingarda na mão, e uma missão específica: fazer guerra para se apropriar das riquezas de todos os demais.
Assim como a mandioca, os povos dessa região são resistentes. As línguas, a alimentação e, principalmente, o modo de interpretar o mundo sobreviveram a quatro séculos de colonialismo. Atravessaram a chegada dos europeus e massacres, o ciclo da borracha e a época do aviamento (a exploração pelos patrões), o assédio religioso, as obras de infraestrutura e a chegada do Estado – a segunda reportagem da série conta mais sobre isso.
Pudera: a esses povos foi confiada uma missão grandiosa. Eles são os guardiães das “manivas originais”, aquelas que devem ser transmitidas de geração em geração. “A primeira maniva surgiu junto com o deus da alimentação. Ele viu a necessidade, prevendo o futuro da humanidade. Essa maniva existe na Bela Adormecida, deve ser bem grande”, diz Rosa, do povo Tuyuka. Bela Adormecida é uma serra que fica bem em frente a São Gabriel. Via de regra, os povos indígenas do Negro enxergam as serras da região como espaços sagrados e de surgimento de formas de vida. “Dali é que as pessoas foram tirando as manivas e distribuindo. Foi criado através desse deus da alimentação.”
Diversidade cultivada
A história da relação entre mandioca e seres humanos não começa nesta região. A hipótese mais aceita é de que em algum lugar entre as atuais Bolívia e Rondônia tenha se dado o primeiro ciclo de uso da mandioca para alimentação humana – uma das possibilidades é de que isso ocorreu em torno de nove mil anos atrás. As pessoas podem ter notado que essa raiz amarga e venenosa poderia ser selecionada para produzir com cada vez menos veneno – e cada vez mais doce. Até que a mandioca amansou. Não demorou muito para que outros animais soubessem da notícia.
Gosto de pensar que a mandioca talvez não tenha curtido bancar a mansa. É então que começa uma espécie de separação entre Rute e Raquel. Entre irmãs que habitam as mesmas casas, mas que fazem questão de ser diferentes. Uma quer ser aceita por todo mundo – no rio Negro, essa é a macaxeira. A outra só revela seus segredos a um punhado de sábias.
– É nessa região do rio Madeira que há muitos tipos de mudança da superfície da terra – conta Charles Clement, pesquisador emérito do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) – Criando canais, criando caminhos elevados, criando aterramentos para aldeias e agricultura. Então é uma região muito interessante. Esse foi um centro importante de domesticação de plantas. Que milho e mandioca mansa foram os mais importantes cultivos, não se tem dúvida.
Como bom amazônida, Charles Clement me oferece uma cadeira confortável do lado de fora da casa, na varanda. Já choveu na tarde de hoje em Manaus, mas continua fazendo calor. Nascido nos Estados Unidos e vagando pela Europa após concluir a graduação em biologia, ele chegou ao Brasil nos anos 1970 como figurante de uma expedição científica, a convite do pai. Desembarcou logo na primeira parada e nunca mais seguiu viagem: ficou no Inpa, onde se aposentou 40 anos mais tarde.
“Eu vou voltar para os Estados Unidos? Lá só tem louco.” Ele gosta de brincadeiras. É um homem magro, de olhos azuis tão grandes quanto a barba branca, e no dia da nossa conversa usava uma bermuda jeans com fiapos e uma camiseta vermelha.
Clement é uma referência no estudo sobre domesticação de plantas da Amazônia. Um artigo publicado por ele em 1999 tem um título cortante: “1492 e a perda dos recursos genéticos de cultivos amazônicos”. Em resumo, o documento sistematiza os registros disponíveis e conclui que havia uma extraordinária diversidade de plantas utilizadas para fins domésticos na Amazônia prévia à invasão branca. Havia ao menos 138 variedades cultivadas, manejadas ou promovidas na Amazônia, o que correspondia a 50% do total para as Américas. Dessas, 52 eram domesticadas. A hipótese levantada por ele é de que um certo descaso com a diversidade amazônica se deve àquilo que aconteceu após a colonização: foi o extermínio dos povos indígenas que levou a que se construísse a ideia de que a região não foi um grande berço de culturas agrícolas.
Justamente no rio Madeira, Eduardo Góes Neves, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, tem sido uma das pessoas que buscam desenterrar essa história. Seus estudos têm combatido a ideia de que havia uma barreira natural ao surgimento de civilizações “avançadas” na Amazônia, fruto de uma noção de que os solos da região são inerentemente pobres. Para ele, o que predominou em toda essa vastidão foi a diversificação no uso de recursos, e não a exploração exaustiva.
Os colonizadores da Europa, primeiro, e dos Estados Unidos, depois, sempre tendo as elites brasileiras no papel de backing vocal, semearam a ideia de que na Amazônia não havia nenhuma grande civilização. A floresta foi pintada como o espaço da escassez, onde sempre faltava algum elemento para construir algo digno de nota. Eles olharam para o alto e não encontraram edificações, pirâmides, nada que lhes fosse tido como signo de grandeza.
“Faltou, no entanto, ‘combinar com os russos’”, escreve Góes Neves no livro Sob os tempos do equinócio. “Os ‘russos’, nesse caso, são os povos antigos da Amazônia que fizeram artefatos de pedra lascada e depois pararam de produzi-los, inventaram a cerâmica e depois deixaram de fabricá-la, criaram solos férteis, como a terra preta, mas não tiravam deles todo seu sustento, domesticaram plantas, mas em muitos casos não quiseram ser agricultores, vislumbraram a possibilidade do Estado, mas dela fugiram sempre que puderam. Na Amazônia central, ao longo dos séculos, a arqueologia mostra uma longa história de alternância entre formas de vida bastante distintas, mas nunca, necessariamente, em direção ao Estado, mesmo nos contextos de densidade demográfica maior.” Neves defende que a floresta seja vista como um espaço de construção biocultural, o que é bem diferente do conceito de patrimônio natural.
O problema não era a Amazônia, mas seus intérpretes, que não sabiam ler olhando para baixo: era sob o solo que esses povos haviam plantado riqueza. A terra dessa imensa região é, em boa parte, escassa em nutrientes – imagine uma terra lavada todos os anos por chuvas torrenciais e enchentes. Há seis mil anos, pelo menos, pessoas sábias aprenderam que, para cultivar alimentos, precisam antes cultivar o solo: a chamada “terra preta de índio” é rica porque resulta de gerações e gerações acumulando matéria orgânica. Em resumo, os povos da Amazônia não construíram pirâmides porque estavam ocupados demais erguendo florestas – ainda que isso seja uma meia verdade, porque recentemente foram descobertas algumas edificações grandiosas na região leste da Bolívia.
Alguns milhares de anos atrás, o milho veio do México para a América do Sul e a macaxeira fez o caminho inverso. Ou seja, havia um intercâmbio de coisas boas para fermentar. Charles Clement entende que o uso cerimonial da mandioca foi o que exigiu passar dos quintais para as roças.
– Na Amazônia havia centenas de línguas. E cada língua era um povo, com sua cosmologia, com tudo. E alguns desses diferentes grupos começaram a cultivar mais do que outros. Todos eles, desde os primórdios, manejavam a floresta em pé, aumentando a abundância de açaí, por exemplo, de castanha. Então, por que trabalhar mais e derrubar a floresta e plantar uma roça de mandioca? Para ter mais cerveja. Dá para produzir cerveja de qualquer espécie rica em amido.
Mais lidas do mês
Vai pra roça
É aqui que o rio Negro entra em cena. Há milhares de anos, mulheres inteligentes notaram que aquela raiz mansa era um alvo fácil para os animais. Nos tempos dos quintais, ou seja, enquanto o plantio era pequeno e logo atrás das casas, tudo bem, porque os animais não chegavam, mas nas roças, distantes da moradia em um, dois, três, cinco quilômetros, a macaxeira era rapidamente comida.
Podemos dizer que são mulheres porque é melhor pensar que tenha sido assim, mas também por uma questão antropológica: entre vários povos, existe uma evidente centralidade feminina nas roças do rio Negro. Os mitos de criação da maniva atribuem a elas o papel de cuidar da roça e da alimentação. Não sabemos se essa região foi a maior responsável pela difusão da mandioca braba, mas é aqui que ela atinge o ápice.
Essas mulheres então passaram a selecionar variedades cada vez mais venenosas – e amargas. E decidiram que seriam as guardiãs de um segredo: deixando fermentar a raiz ou cozinhando as folhas por vários dias, o veneno e o amargor desapareciam. Surgia no lugar uma planta rica em sabor e diversa em usos. Com o tempo, muitos povos de outros lugares desaprenderam a lidar com ela: esses povos também haviam sido amansados e já não sabiam o que fazer com tanta brabeza.
Mas as mulheres do rio Negro, não. Elas nunca negaram abrigo e reinado à mandioca. O desdém com que tratam a macaxeira, uma espécie de coadjuvante das roças de mandioca, é uma demonstração reiterada de fidelidade e acolhimento. São elas, também, que dominam a diversidade das manivas: escolhem as melhores de acordo com o gosto, o rendimento e a finalidade. Batizam com o nome de quem doou, ou a localidade, ou alguma característica.
– Então, uma aldeia de 10 mil pessoas tinha que ter muita variabilidade. Porque uma das coisas que a gente sabe é que quanto mais indivíduos de uma espécie, maior a chance de uma praga ou doença gostar dessa população – continua Clement. Ou seja, monotonia genética, como é o caso da agricultura atual, é um risco grande – Então, como os povos indígenas fizeram? Manejaram com variabilidade. Quando você vai para uma roça no Alto Rio Negro, você vai olhar e parece um monocultivo de mandioca. Mas não é. Qualquer pessoa tem vinte, trinta variedades de mandioca. O que é isso? É seleção. É a base da domesticação. E é acompanhado por propagação. Domesticação é feita por duas coisas. Só isso. Seleção, que é inconsciente. E propagação, que é consciente.
Essa diversidade era muito maior do que em outros lugares, mas não sabemos o tamanho real. Perguntei a Clement se, passados 26 anos desde a publicação do artigo, estávamos mais perto de entender esse tamanho. Ele não demorou um segundo para chacoalhar a cabeça em forma de não.
– Vamos supor que a Covid chega e elimina todas as pessoas naquela comunidade. Sem as pessoas, a roça vira uma capoeira. E, em breve, não tem mais mandioca. O que é que você perdeu? Algumas variedades também estão em comunidades ao lado. Porque tem uma rede de trocas contínua no Alto Rio Negro, ou qualquer parte da Amazônia, ou do mundo. Mas algumas coisas naquela comunidade eram próprias. Porque, todo ano, quando se abre uma roça, o fogo estimula a germinação de sementes de mandioca que são oriundas de diferentes combinações, das 20 ou 30 diferentes variedades na roça anterior.
Um olhar sobre o presente ajuda a entender. Os traços culturais evidentemente contam muito na explicação sobre a predominância de espécies e variedades. Mas não são o único fator. É comum escutar camponeses dizendo que decidiram cuidar de uma determinada planta porque sim: porque foram com a cara dela, ou gostaram do sabor, ou do modo de cultivar. Às vezes, mesmo entre vizinhos, há diferenças significativas nessas escolhas. E, assim, dentro daquela área, uma família ou uma pessoa podem ser os guardiães únicos de uma espécie ou variedade. É comum, também, acontecer o contrário: uma espécie ou variedade do agrado de uma mãe pode não ser do agrado de uma filha e, então, desaparecer.
Roça nova pra não perder
De fora, tudo parece uma floresta impenetrável. Até que se apresenta uma brecha, apenas a quem tem olhos muito treinados. Uma pequena clareira por entre as árvores. É o espaço preciso para fazer passar uma canoa, com o motor desligado, espreitando os troncos na época da cheia.
Precisamos de poucos minutos desde a comunidade de Cartucho, na Terra Indígena Médio Rio Negro II, no município de Santa Isabel, para chegar à roça de Aida Oliveira dos Santos, de 56 anos. A roça fica numa ilha do rio, cercada pela floresta, como praticamente todas as roças dessa região.
– Tem maniva que a gente gosta muito dela, né? Aí tem que mudar. Todo ano tem que plantar roça nova pra não perder. Por isso que todos os anos mandamos nosso marido fazer roça pra gente.
Na divisão de papéis, cabe aos homens delimitar e isolar a área onde será feita a roça. Alqueires ou hectares são medidas desnecessárias porque o que define o tamanho da roça é a disposição da pessoa e quantos dias de machado os homens aguentam. Próximo ao verão (que começa em junho-julho), derrubam as árvores e deixam secar durante algumas semanas. No auge da seca, tacam fogo nessa mata. Por fim, benzem para resfriar a terra.
É então que entram em cena as mulheres.
O plantio das manivas é o primeiro e o principal, feito no meio dos tocos de árvore, sem remover quase nada. Pode levar algumas semanas, a depender do tamanho da roça e de quantas mãos ajudam. Sempre se começa de fora para dentro, numa espiral. A razão disso é simples: a colheita também será feita na ordem do plantio, logo, se as manivas fossem colocadas de dentro para fora, no momento da colheita seria preciso derrubar as plantas ainda em desenvolvimento para chegar àquelas já crescidas.
Na mata virgem, em geral espera-se até dois anos para colher. Nas colheitas seguintes, em torno de seis meses, porque muitas famílias têm dado preferência a manivas que se desenvolvem mais rapidamente. Há variedades que aguentam um ano e, depois disso, “aguam”, ou seja, começam a apodrecer. Outras conseguem durar até dois anos e se tornam uma poupança para a família: se precisar de farinha ou de dinheiro, é hora de colher.
“A gente replanta a maniva. Se cutuca a maniva na terra e ela não brota mais, a gente vê que ela não está mais gostando da terra”, diz Aida. No geral, isso se dá em três, quatro, cinco anos, a depender da fertilidade da terra, do tamanho da roça e dos cuidados. Depois disso, a roça é abandonada para que se torne capoeira. Em apenas alguns meses surge uma vegetação primária, que em alguns anos terá se convertido numa floresta ainda tímida, que pode ser novamente derrubada para dar lugar ao plantio da maniva. Ou, depois de mais alguns anos, estar regenerada. É por isso que cada família mantém em simultâneo duas, três, quatro roças, para garantir que sempre exista renovação e produção em quantidade – o que é diferente de produtividade.
Algumas famílias preferem fazer manivais com as variedades bem separadinhas. Outras não se importam tanto com isso e, nesse caso, simplesmente separam as amarelas e as brancas – hoje em dia, as amarelas costumam receber uma área maior devido a uma preferência declarada pela farinha de mandioca amarelinha, que todos reputam como mais gostosa. “É pela folha que eu conheço qual variedade é”, explica dona Aida, enquanto caminhamos pelo manival. “Essa é a pacu. Ela é amarelinha.”
Só nas margens da roça, meio de escanteio, vem a macaxeira. Depois de algumas semanas, no meio dos manivais começam a ser plantadas muitas coisas. O traço característico de qualquer roça é a diversidade. Uma roça e as capoeiras do entorno terão muitas espécies diferentes: bananas de vários tipos, o abacaxi mais doce do mundo, cupuaçu, pupunha, açaí-do-mato, açaí-do-pará, cubiu, abiu, várias pimentas, algumas variedades de macaxeira, caju, bacaba, ingá, para citar apenas algumas das mais frequentes.
Toda Rute tem um pouco de Raquel
“As mandiocas bravas e as mansas continuam sendo uma mesma espécie. Mas são bem diferentes entre si. Isso a gente consegue ver no nível de variação genética do DNA”, resume o biólogo Alessandro-Alves Pereira, que tem há vários anos estudado a respeito da mandioca.
Ele foi um dos pesquisadores à frente de um estudo realizado em 2019, com a participação de Clement e de Gilda Mühlen, hoje professora da Universidade Federal de Rondônia. Promoveu-se uma comparação genômica inédita utilizando vários bancos disponíveis de manivas. O objetivo dos pesquisadores era entender o grau de parentesco entre 494 variedades de onze regiões geográficas diferentes e somar elementos às hipóteses possíveis sobre o processo de difusão da mandioca.
O grupo descobriu que há de fato um grau de convergência razoável entre as variedades mansas, isoladamente, e entre as bravas, também isoladamente, com um grau menor de convergência entre os dois tipos. Porém, há uma diferença regional considerável, o que reforça a capacidade e a sabedoria de camponesas e camponeses para selecionar e melhorar as variedades adaptadas ao clima e ao solo locais.
“O que mais chama a atenção é que na Amazônia os agricultores tradicionais conservam uma enorme variação nas suas mandiocas. Quando a gente olha isso em nível de DNA, a variação é ainda maior”, conta Alessandro. Ele atualmente é professor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, da USP. “Então, essas populações estão prestando serviço para toda a sociedade porque estão conservando uma grande quantidade de variação genética. Isso é muito importante para que o cultivo siga existindo no longo prazo.”
Uma descoberta particularmente interessante é que algumas variedades tidas como doces são, tecnicamente, amargas, com um nível alto de ácido cianídrico, que é o famoso veneno da mandioca, ou seja, toda Rute tem um pouquinho de Raquel dentro de si, e vice-versa. No fundo, ambas são insurgentes. A diferença do rio Negro é que a gêmea boazinha quase não tem vez, quase desaparece. Os pesquisadores entendem que “provavelmente” a mandioca braba surgiu na Amazônia e que há duas variações dela: a do rio Negro tem características próprias, ao passo que na costa do Brasil há outra mandioca braba.
Eles propõem uma explicação para a alternância de prosperidade entre macaxeira e mandioca: o milho. Sim, nos lugares onde o milho predominava, prosperou a macaxeira porque, nesse caso, ela entra em jogo como um complemento para ele – por exemplo, na forma das raízes fervidas rapidamente em água, algo que ninguém em sã consciência faria com a braba. Um ponto sobre o qual não há dúvidas é de que no rio Negro a braba atingiu seu ápice genético em termos de diversidade. São variedades adaptadas a sobreviver a um solo ácido, debaixo de muita chuva e com uma estação seca discreta em comparação, por exemplo, com o Cerrado e o Semiárido.
As variedades que mais se espalharam foram as doces, com a ressalva feita anteriormente: doces e amargas seguem sendo a mesma espécie. Hoje, a mandioca é um cultivo fundamental na África. A produção global anual é estimada em 330 milhões de toneladas – em 2023, o Brasil produziu 18 milhões de toneladas.
É tanta maniva que perde a conta
– João, esse povo daqui trabalha o tempo todo. Nem pra almoçar eles param – me diz Juscelino Joaquim Gregório. Já passa de meio-dia e, de fato, ninguém parou. Todos continuam trabalhando debaixo da casa de farinha. São pelo menos 15 pessoas de um mesmo núcleo familiar. Descascam, moem, peneiram e torram. Algumas mulheres chegam da roça com o aturá (o cesto de palha) repleto de mandioca. No rio Negro, a raiz colhida na roça é colocada nessas grandes cestas de palha, presas à testa por uma tira de tecido: é o pescoço que aguenta o tranco – Aqui em Açaituba é todo mundo agricultor. Todo mundo.
Açaituba é uma comunidade situada abaixo de Santa Isabel do Rio Negro, ainda na calha principal do rio. Naquele horário, todo mundo estava espalhado pelas roças e pelas casas de farinha.
Juscelino não tem dificuldades em conversar enquanto caminha rápido pela trilha que vai da comunidade até uma das primeiras roças. Não diminui nem na hora de se equilibrar sobre as madeiras fininhas colocadas sobre os igarapés – tarefa que eu, vestindo um chinelo e equilibrando um gravador em uma mão e o microfone na outra, peno para cumprir. É só depois de trinta minutos de caminhada por dentro da mata que começam a surgir os plantios.

Como o solo no entorno das casas é arenoso, os moradores fazem esse trajeto todos os dias – se for preciso, mais de uma vez, como será o caso de Juscelino hoje. É de admirar que as pessoas consigam caminhar todo esse trajeto com aturás cheios de farinha de mandioca. Ninguém sabe ao certo o peso de um cesto carregado, porque essas medidas não têm nenhuma importância: o que importa é fazer a farinha chegar ao povoado para, daí, ser levada de rabeta até a cidade de Santa Isabel, a meia hora de distância, onde será finalmente comercializada.
– O pessoal carrega a farinha no aturá por aqui, mesmo? Com aquele peso todo?
– Carrega, sim, demais. O povo ainda passa dando risada, conversando.
Juscelino, de 29 anos, é comunicativo. Ele parece desfrutar do papel de guia da nossa pequena comitiva. Adora contar histórias de seu povo. Criado no idioma Baniwa, ele foi aprender o português mais tarde, e daí desaprendeu o idioma original. Decidiu passar três anos numa outra comunidade para conseguir recuperar. Hoje, é um dos Baniwa que moram numa comunidade de maioria Baré. Ao final da caminhada, sob o sol forte, surge uma roça grande e diversa. E chega a casa de farinha onde trabalha a numerosa família da qual ele faz parte.
Já visitei muitas casas de farinha. Vi mutirões reunindo muitas pessoas. Mas nada tão grande quanto em Açaituba. E essa é apenas uma entre várias casas de farinha da comunidade.
– Eu digo assim… o governo nem conhece a gente. Trabalho aqui igual desprezado. Ninguém tem conhecimento lá fora, entendeu? Então, isso sempre eu falo muito pras pessoas, né? – Rosalino Celestino Alves, de 68 anos, é um dos fundadores da comunidade.
Colombiano, ele conheceu o Brasil nos anos 1970. Na volta para casa, decidiu que já sabia onde iria morar. Foi descendo o rio Negro até escolher o espaço onde seria fundada Açaituba. Quem o vê falando nem imagina que o português foi aprendido já adulto.
– A gente tem muita maniva. Nem pode contar quanto tem. Paca, açaí, irapuca, arraia. Paite. Baixinhozinho. Gigante, branquinha. Muitas.
Pouco depois, a esposa dele, Maria Esteva Plácido Pinheiro, de 55 anos, chega da roça carregando um aturá cheio de mandioca. Não demora, ela já está de faca na mão tirando a casca das raízes que em breve serão trituradas. O raspar da faca cria uma sinfonia com o crepitar do forno, onde a tapioca começa a pular, soltando um cheiro doce que se espalha pelo lugar.
– É a tefé – responde, quando pergunto a ela qual a maniva preferida. Maria Esteva é tão rápida na resposta quanto na faca. A cor amarela e o tamanho das raízes explicam a predileção. A tefé entrou pra família numa troca com uma comunidade de Tefé, município no Sudoeste do Amazonas – Se você trouxer uma maniva lá da sua terra, a gente vai chamar de seu João.
– E como vocês separam as manivas na hora de colher?
– Eu não separo é nada. Elas que se separem.
– Vai tudo junto?
– Tudo junto.
Várias das conversas com os camponeses levam a pensar que aquilo que se conhece como sistema agrícola tradicional são, na verdade, sistemas agrícolas. Algumas pessoas gostam de plantar mandiocas brancas e amarelas em separado. Outras preferem juntar. Outras separam de acordo com a variedade. Também variam os nomes e a preferência por ter muitas ou poucas manivas. A maneira de fazer a farinha e outros derivados. Tudo guarda diversidade.

Mas, dentro dessa diversidade, tem um elemento que não varia: famílias que conseguiram permanecer unidas têm mais chance de obter uma boa renda e, assim, continuarem unidas. Ou, se alguém quiser mudar a ordem dos fatores, famílias que obtêm uma boa renda conseguem continuar unidas e, assim, seguir a ter uma boa renda. São elas que dão conta de assegurar a permanência dos jovens – Juscelino é uma demonstração disso, e parece saber bem a respeito.
A família de Maria e Rosalino produz farinha praticamente todos os dias. Nos cálculos deles, em torno de 15 latas por semana – nesse caso, sim, a lata tem tamanho definido, em torno de 60 quilos, o que dá algo próximo de 45 a 50 toneladas por ano. Açaituba tem 36 famílias, ou seja, no fim de um ano, é uma produção realmente relevante.

Os seres da mata ficaram
A gente só consegue entender como tantos povos e tantas culturas floresceram num mesmo espaço geográfico quando desliga o motor. Esse não é qualquer espaço geográfico: é um continente. Politicamente, São Gabriel é uma cidade de fronteira, mas as fronteiras de verdade ficam a muitas horas ou a vários dias de distância. A remo, demandaria semanas e meses para ir de um ponto a outro. Um deslocamento feito em caso de extrema necessidade ou por uma relação de troca muito vantajosa.
É preciso compreender, também, que esse florescer se deu com base em troca e alteridade. Os Tuyuka, por exemplo, pertencem ao tronco linguístico dos Tukano. Na tradição, só podiam se casar com os núcleos de outros povos Tukanos tidos como apropriados para isso – estavam excluídos os núcleos considerados irmãos separados.
Com o motor ligado, quem sobe o rio Negro se depara com as águas revoltas: um anúncio de que São Gabriel da Cachoeira está chegando. É quando a calha do rio se torna mais pedregosa e se afunila.
No nome da cidade, um santo católico se impôs, mas teve de aceitar no sobrenome as cachoeiras formadas por dois indígenas. Curucui e Buburi, ao disputarem o amor de uma mulher, entraram em confronto, caíram e ficaram presos às margens do rio, cada um de um lado, eternamente castigados.
Até o começo do século 20, São Gabriel era um povoadinho. Mas a mudança dos tempos foi construindo a centralidade desse local como espaço de acesso ao mundo imposto pelos brancos. As pessoas vieram das comunidades por causa das escolas, das missões religiosas, do atendimento médico e dos serviços sociais.
Uma alma mais esperançosa poderia dizer que em São Gabriel e nas comunidades o que se vê é um processo de fusão cultural. Prefiro entender como uma violência colonial da qual emergem processos de resistência que se manifestam na língua, na comida, na roça, no modo de enxergar o mundo. Deus todo poderoso, Jesus Cristo e os santos chegaram, mas os seres da mata não foram embora. Hoje, fazem parte de um sistema complexo que alguém poderia chamar de crenças, mas que, de novo, prefiro nomear como visão de mundo.
Uma das maneiras de se relacionar com esses seres é o benzimento. Pode ser para curar doença, para acessar um espaço sagrado, para aplacar a ira da natureza. Em relação à roça, o benzimento é uma espécie de autorização de uso do território. Mas a regra é clara: assim como se dá com Jesus, os espíritos aceitaram novos moradores, mas não foram embora. Eles seguem zelosos por tudo e não oferecem clemência diante de qualquer sinal de desrespeito. Uma mulher menstruada em um local sagrado faz despertar chuvas torrenciais. Uma pessoa que pega uma trilha não autorizada pode nunca retornar.
Apenas um sonho
Depois de várias horas de conversa, perguntei a Charles Clement se havia algo mais que ele gostaria de dizer. “Você não vai querer saber sobre a minha palestra sobre o fim da Amazônia?”, ele indagou. Era o ponto por onde havíamos começado a conversa, abordando a fase caótica do capitalismo global e o esmagamento de paradigmas alternativos de vida, como no caso dos povos indígenas, com a perda rápida de conhecimentos tradicionais que eram capazes de oferecer uma outra leitura do mundo.
“Então a palestra, formalmente, é chamada ‘Insustentabilidade da Amazônia’, que é um dos dilemas do século 21. E não tem respostas. Só tem perguntas. A palestra é cheia de definições e de dados daqui, dados daí, que mostram o tamanho da bagunça que criamos. E que, devido ao tamanho dessa bagunça, o sonho da sustentabilidade é só isso, um sonho.”
Charles havia avisado que, no rio Negro, eu me depararia com os problemas levados por técnicos agrícolas que tentam impor um modelo descasado dos modos de vida tradicionais. Alguns dias mais tarde, foi impossível não me lembrar dele ao ver um camponês que havia começado a produzir bananas usando fertilizantes químicos recomendados pelos tais técnicos.
“Então, eu gosto de dizer que essa ideia de inclusão social, que ninguém é contra, é desenhada para transformar todo brasileiro em paulista. E pronto. Essa enorme variabilidade que tem no Brasil, que é uma das coisas boas do Brasil, pode ser usada para um diferente tipo de desenvolvimento. Mas teremos de inventar um jeito de encerrar o ciclo capitalista e viver dentro do que a natureza pode oferecer e aguentar receber.”
A conversa com Charles havia começado com a surpresa dele diante do que eu estava buscando. A ideia era retratar os modos de vida dos povos indígenas, e particularmente do rio Negro, como uma resistência diante das mudanças climáticas e de uma crise generalizada. Ele demonstrou ceticismo e perguntou: “O que a mandioca tem a ver com isso?”
Depois de tanto pensar, eu acredito que sim, que a mandioca tenha a ver com isso. Ela não é como o milho, o arroz, a soja e o trigo, que sofreram uma grande erosão genética ao longo do século passado e, hoje, são basicamente sementes controladas por corporações. Essas sementes não apresentam diversidade: são um mesmo material genético para qualquer bioma, o que pressupõe a aplicação de fertilizantes para lidar com solos que não estão aptos a receber aquela cultura e venenos para controlar plantas “estranhas” e insetos indesejados. Num cenário crescente de colapso climático, essas sementes são fracas, pouco capazes de adaptação.
Se existe alguma maneira de o Brasil de fato alimentar o mundo, essa maneira é a mandioca – e não a soja.