Termo comum entre empresários, “insegurança jurídica” não é levada em conta no caso dos acampados. Eles disputam área com usina que deixou R$ 400 milhões em dívidas e milhares de trabalhadores sem direitos
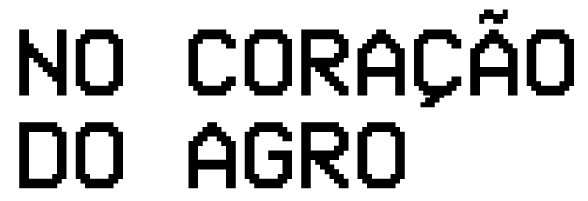
Uma tripa de terra espremida entre um campo de soja e uma mata rala define os limites da vida de 140 famílias acampadas sob lona em Jaciara, no sul de Mato Grosso. Ao longo de oito anos, essas pessoas já foram declaradas donas dos 8.200 hectares da fazenda da antiga usina de cana Pantanal. Mas também já foram declaradas expulsas, e tiveram até as casas destruídas. Entre o céu e o inferno, por enquanto, é o inferno quem ganha a batalha.
“Um dia você tá bem, conseguindo produzir”, conta Simone Crispim dos Reis, líder do Acampamento Renascer. “E no outro acorda e não sabe se vai poder colher o que plantou. É muito complicado a gente viver nessa incerteza, nessa insegurança.”
Ela nos encontra num posto de gasolina no centro de Jaciara. Quando começamos nosso deslocamento até o assentamento, ficamos mais e mais e mais boquiabertos. Depois de mais de uma hora dirigindo entre plantações de soja, finalmente enxergamos alguns barracos de lona, e começamos a entender quão difícil é a vida por lá.
– Mãe, será que nós vamos sair daqui? – Simone relata a conversa que teve recentemente com a filha de oito anos.
– Não. Você quer sair?
– Eu não quero.
– Eu também não quero. Então, vamos orar e pedir pra Deus, dizer que a gente não quer sair daqui.
Para piorar, depois que a tensão com a usina recrudesceu, os acampados já não podem circular entre as plantações de soja. Eles contam de seguidas tentativas de intimidação pelos seguranças privados da empresa. Com isso, toda a vida se desenrola dentro da tripa de terra. Para qualquer outra coisa que o acampamento não ofereça, a solução é viajar uma hora até Jaciara.

Algumas dessas famílias estão há quase vinte anos esperando uma definição. Numa primeira fase, em agosto de 2003, pessoas ligadas ao Movimento da Vitória de São Pedro da Cipa entraram nas terras. “Nós formamos a comunidade, e viemos à noite, viemos de ônibus, e já amanhecemos aqui na Terra”, recorda José Tomaz de Souza Sobrinho. Ele trabalha como agricultor desde os 7 anos e, aos 74, ainda tem a esperança de ser dono de um pedaço de chão.
Criado no Paraná, José está há trinta anos em Mato Grosso, dos quais vinte se passaram nessa luta. Nesse período, muitos acampados desistiram. Alguns mudaram de ideia. Outros morreram ou adoeceram. Quanta coisa acontece numa vida ao longo de duas décadas? Quando pensamos nas nossas próprias vidas, vinte anos atrás, é impossível dimensionar quanta resiliência é preciso para seguir esperando pela criação do assentamento.
“A gente ficou nove meses. Chegou a plantar. E plantar bastante coisa. Mas aí tivemos a primeira liminar, com dez meses que a gente estava. A gente saiu e ficou bastante tempo fora, até que tornou a ocupar. A gente ocupou quatro vezes essa terra”, continua José.
Desde aquela época, duas ações judiciais correm em paralelo, uma brigando com a outra. De um lado, a usina Pantanal alega que as terras foram concedidas pelo estado de Mato Grosso a uma proprietária em 1957. Alguns anos mais tarde, os donos entraram com pedido no Incra para que fossem legalmente reconhecidos. E, por fim, o terreno foi comprado pela família Naoum, dona das usinas Jaciara e Pantanal.
De outro lado, o Incra alega que jamais concedeu a propriedade dessas terras. Primeiro, porque o reconhecimento de propriedades acima de 2.500 hectares teria de ser submetido ao Congresso Nacional. Segundo, porque o terreno fica próximo a uma rodovia federal e, portanto, não se pode reconhecer o usucapião, instrumento jurídico que concede a propriedade a quem tenha permanecido na terra por vários anos. Terceiro, e mais grave, o Incra diz que a usina apresenta uma matrícula falsa, porque a propriedade que é de direito da empresa fica ao lado dessa gleba.
As planilhas do Incra confirmam que a chamada Gleba Mestre, local do acampamento Renascer, é reconhecida como um projeto de assentamento, para 260 famílias, criado em 29 de março de 2004. Entre muitas idas e vindas, o acampamento foi retomado em 2014. Quatro anos depois, com mais uma decisão judicial, os moradores estavam convictos de que finalmente poderiam tomar posse. “Estava tudo certo. Dia 1º de dezembro ia começar o assentamento. Aí eles [a usina] entraram com mandado de segurança e pararam de novo”, conta Eribaldo Alves do Nascimento, um dos acampados mais antigos.
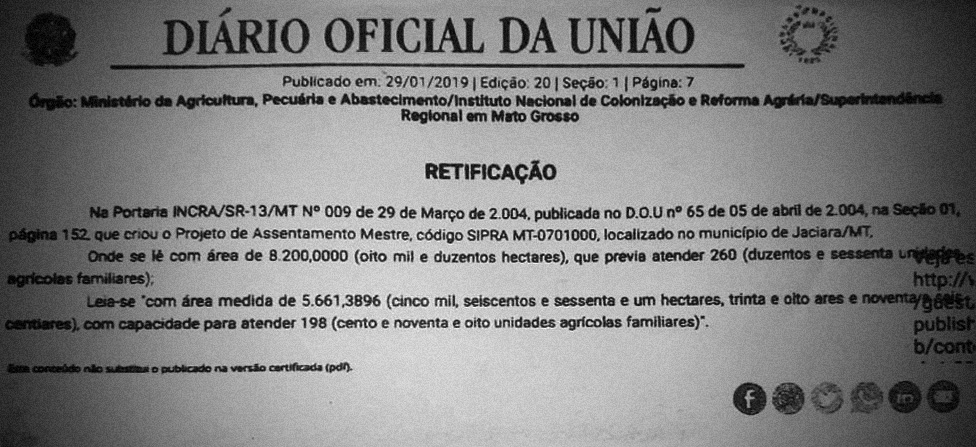
O significado da sua luta pela terra talvez tenha mudado de sentido: inicialmente, aquele seria um espaço de trabalho e sustento para os filhos. Mas a distância entre o acampamento e a escola levou a família toda para a cidade. E, agora, ele já não tem a ilusão de que os meninos queiram ser agricultores, porque tanto sofrimento os levou para longe. Eribaldo, o irmão e um primo passam a vida em três hectares, onde cultivam quiabo, jiló, pimentão, berinjela e verduras. “A gente produz dois mil quilos por semana”, ele repete, orgulhoso, algumas vezes durante as horas em que conversamos. Ao final, prepara sacolas enormes para levarmos quilos e quilos de alimentos.
“Aqui o agronegócio está matando. Vai espremendo e tomando todos os espaços da agricultura familiar. Nós estamos ficando sem espaço. Está fechando a gente pequena de todos os lados. Aqui no Mato Grosso, não dou dois anos pra acabarem de vez com a agricultura familiar”, ele lamenta. “O ano passado judiaram muito da gente aqui. Dissecava a soja com avião e arrebentava com a gente aqui. A nossa produção ficou praticamente zerada. Teve que começar do zero. Fizemos a denúncia, mas não surtiu efeito.”
O acampamento fica na parte baixa do terreno. Soja ladeira acima, veneno ladeira abaixo. Bem na divisa entre o acampamento e os campos da usina, um fiapo de água – ou de veneno? – é usado para irrigação de algumas hortas e para o abastecimento de algumas casas.
“Tem problemas de desmatação. Isso aqui se tornou um troço muito delicado porque foi todo destruído pela empresa”, lamenta José Tomaz. “Você vê o quanto prejudicou essas nascentes Aqui é um lugar de muita nascente, onde vai ter que reflorestar tudo porque tem que preservar essa nascente para essa água voltar. E já está começando a voltar. O pouco que a gente cuidou, já está vendo resultado.”
Ele fala empolgado sobre as nascentes. E daquilo que cresce onde antes havia cana – sim, porque, antes da soja, a usina plantava a própria matéria-prima, e é difícil saber qual vizinho era mais complicado: a cana ou a soja. “Eu tenho maracujá, feijão, tenho café, tenho galinha, tenho porco, tenho mandioca. Tem o milho, a banana.”
Conviver com o surreal
2021 trouxe ventos pesados para o Acampamento Renascer. “Jesus amado, eles estão destruindo tudo.” O vídeo gravado no celular registra a voz de Simone, aos prantos, enquanto um trator destrói os barracos de lona. Era 11 de janeiro quando a Polícia Militar chegou com tratores, caminhões e seguranças privados da usina. Em plena pandemia, o desembargador Dirceu dos Santos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, autorizou a reintegração de posse em favor da usina.
“A matrícula nossa é a de número 5.036. Eles pegaram a matrícula de outro local, de um local que é a 70 quilômetros daqui”, recorda Eribaldo. Ao longo dos últimos meses, enquanto repórteres, fomos nos acostumando com o surreal como regra. Ao escutar os moradores do acampamento, tivemos uma reação que se repetiu em várias outras entrevistas por Mato Grosso: deve haver algo errado; não é possível que isso seja verdade. Mas era.
Os acampados se recordam da aflição. Enquanto alguns tentavam juntar os poucos pertences, outros tentavam frear a reintegração. “Até provar que a matrícula era falsa, já tinham derrubado 20 e poucas casas. O que os outros chamam de barraco a gente chama de casa. É nossa casa. Nossa família está aqui, nossa vida está aqui. Sem nenhuma estrutura, mas é a nossa casa”, diz Eribaldo. Depois de dois dias de destruição, o desembargador finalmente reconheceu que, talvez, tivesse sido enganado pela usina, e mandou a PM parar a operação.
Enquanto o dia avança, o calor debaixo das lonas vai se tornando insuportável. Os cachorros se esparramam sobre o chão de terra batida, enquanto as crianças brincam na casa de Edmilson Alves Ferreira. Ele é um homem forte e alto, de pele morena marcada pelo sol, com uma voz grave e uma fala cordial.
“No ano passado eu tava com as mudas de maracujá prontas. Para plantar no começo das águas. Mas aí, quando era agosto para setembro, a gente já sabia de uma liminar que estava por vir. Com aquela ameaça, ameaça, ameaça de liminar, eu não pude plantar. Como é que planta?”, ele pergunta. E a gente só consegue pensar na quantidade de alimento que deixa de ser produzida num país em que mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar e nutricional.
“A polícia teve aí, desmanchou casas de moradores e agrediu alguns, tirou de dentro da casa à força, empurrou com máquinas. Foi muito sofrido. A gente fica nervoso. A gente trabalha sem segurança”, continua. “Tem uma filha minha, ela tem seis anos, e ela tá com trauma. Até hoje, se ela vê um carro de polícia, ela sai correndo com medo. Ela acha que eles derrubam as casas, agridem as pessoas.”
Em algumas decisões antigas, a família Naoum se valeu do argumento da segurança jurídica para frear a transferência da área para os sem-terra. Em 2005, uma decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região chegou a dizer que o Incra deveria procurar outra área: não valia a pena causar o desemprego de 1.500 funcionários da usina para assentar 400 famílias.
Mas o tempo passou. E a usina foi desativada. Deixando não apenas danos ambientais, como dívidas colossais. O cadastro de devedores do governo federal registra R$ 404 milhões entre multas trabalhistas, dívidas previdenciárias, não recolhimento de FGTS e não recolhimento de impostos. Uma reportagem do site Olhar Jurídico, em 2016, registrava duas mil ações trabalhistas movidas contra a empresa. Em 2020, a Justiça do Trabalho determinou a liberação de R$ 21 milhões para o pagamento de 1.479 ex-empregados.
A propriedade das terras e da fábrica foi passada para a Usina Porto Seguro, que decidiu seguir adiante também com as ações judiciais. “Esse ano eles tentaram colocar a usina pra funcionar. Pra produzir álcool”, conta um dos acampados. E, de novo, nos parece surreal. A fábrica é um casco enferrujado, caindo aos pedaços. Uma ruína.
E, de novo, o surreal é verdade. A tentativa deu muito errado. Em junho, ocorreu uma explosão, deixando três trabalhadores feridos (dois em estado grave). Em julho, um incêndio. Até que o Ministério Público do Trabalho conseguiu uma decisão judicial para proibir a operação.
“Fisicamente e mentalmente fiquei muito abalado”, conta Edmilson. “É muito sofrimento você trabalhar com insegurança, é tenso. Eu queria ter paz para trabalhar, para criar os filhos. Tem noite que você não dorme. E fica olhando as crianças dormindo todo feliz, ali olhando aquela inocência toda, mas por dentro a gente fica muito triste.”
Um, dois, três, meia dúzia: ao longo de várias entrevistas, por lugares diferentes de Mato Grosso, perdemos a conta de quantos homens nos disseram sofrer abalos psicológicos causados pelo agronegócio. Homens acostumados à vida dura na terra. Que trabalharam desde a infância. E que sentiram uma dor tão grande que não conseguiram guardar pra si.
*colaborou Guilherme Zocchio












