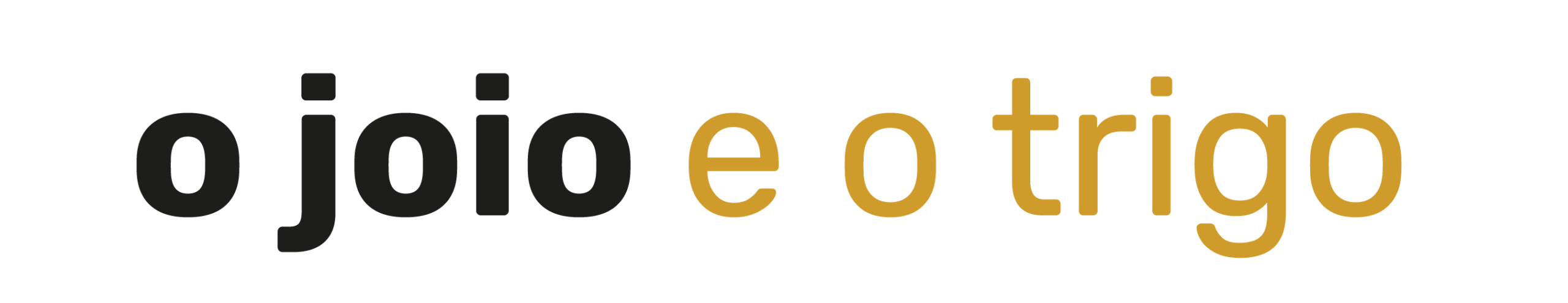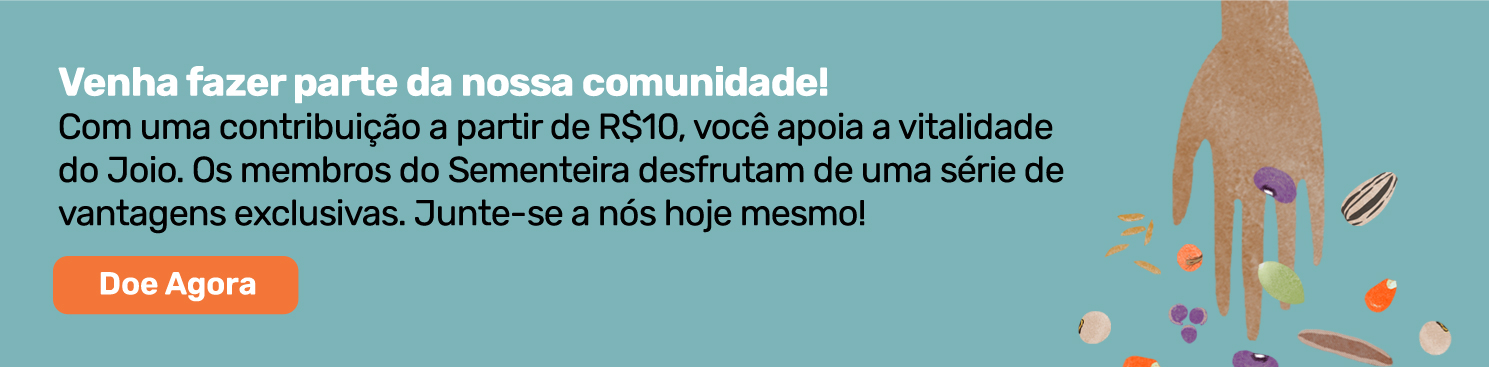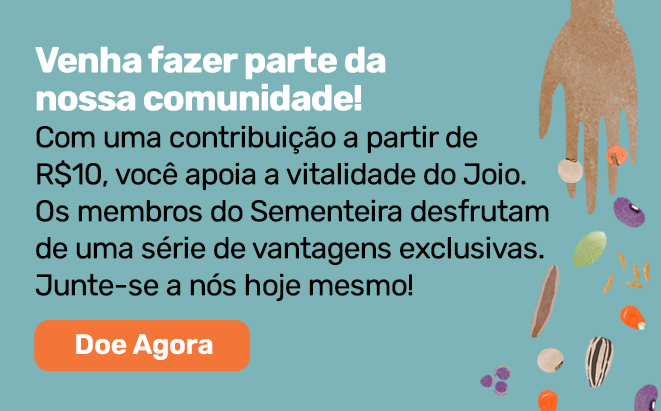Documento de referência do MDS avança no diagnóstico, mas depende de outras pastas e esferas federativas para sair do papel
O perfil das emissões brasileiras de gases de efeito estufa difere do padrão observado nas grandes potências. Enquanto China, Estados Unidos e União Europeia concentram seus impactos na queima de combustíveis fósseis, por aqui o problema nasce no campo e se espalha pelo território. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), do Observatório do Clima, o conjunto de atividades ligadas à produção e ao consumo de alimentos é responsável por quase três quartos das emissões nacionais. Mesmo assim, a pressão da pecuária e do agronegócio sobre o clima ainda ocupa um espaço secundário nas decisões de Estado. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) elaborou o Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas.
O Joio teve acesso ao documento, que será apresentado nesta quinta-feira (16) no 13° Congresso Brasileiro de Agroecologia (CBA), em Juazeiro (BA). O marco propõe olhar para a comida com a lente do clima – e para o clima com a lente da comida. A ideia é alinhar as políticas que tratam desses dois mundos, hoje dispersas, a partir de uma linguagem comum. O material foi elaborado em parceria com o Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição (Opsan), da Universidade de Brasília (UnB), e o Instituto Clima e Sociedade (iCS).
Desde a transição de governo, em 2023, a agenda que aproxima clima e segurança alimentar ganhou força dentro da estrutura federal. É nesse terreno – ainda marcado por disputas dentro e fora do Executivo – que a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) do MDS, Lilian Rahal, situa a origem do marco.
A proposta, explica ela, nasce do esforço de “pautar segurança alimentar com base no direito humano à alimentação adequada (DHAA) dentro do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Plano Clima)”, evitando que o debate volte ao atalho conhecido: produção acima de tudo.
O texto pretende preencher a lacuna entre intenção e implementação. Enquanto o plano define quem faz o quê, com quais recursos e em que prazos, o marco orienta de que modo fazer, para que a execução seja apropriada. “É preciso olhar para a alimentação não apenas pela disponibilidade de comida, mas pela qualidade do que se come e pela forma como é produzida”, acrescenta Lilian.
O que são sistemas alimentares
Conjunto de processos que envolvem a produção, o transporte, o consumo e o descarte de alimentos. O conceito integra dimensões ambientais, sociais e econômicas, mostrando como a forma de produzir e comer afeta o clima, a saúde e a biodiversidade.
Segundo Elisabetta Recine, coordenadora do Opsan e presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), o trabalho começou a ser elaborado a partir de um seminário com especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil. “Desde o início, tivemos o cuidado de não repetir o que já existia. A ideia sempre foi somar esforços e olhar o tema de forma mais ampla”, explica.
Em seguida, veio uma varredura de literatura. Com premissas estabelecidas, definiram-se princípios e caminhos. Depois foi realizada uma oficina de trabalho com governo, pesquisadores e sociedade civil, além de consulta pública – com busca ativa para ampliar a participação. O processo também envolveu reuniões bilaterais do MDS com pastas específicas.
No conjunto, o Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas funciona como um guia conceitual. Reúne evidências científicas e diretrizes que orientam governos e gestores na incorporação da agenda climática às políticas de alimentação e nutrição. Também estabelece eixos de atuação que conectam o campo, a mesa e o meio ambiente, com foco na segurança alimentar e na sustentabilidade.
O material é um desdobramento do Planejamento Estratégico Institucional 2023–2026 do MDS, do Plano Plurianual 2024–2027 e do Plano Brasil Sem Fome. A partir desses instrumentos, o governo assumiu o compromisso de criar uma referência para orientar políticas públicas e definir metas de mitigação dos impactos entre produção de alimentos e clima.
Estrutura geral
O documento foi construído em três camadas complementares – premissas, princípios e caminhos – que formam a espinha dorsal do marco.
As premissas reúnem o diagnóstico e os fundamentos conceituais que sustentam o texto. Elas partem do reconhecimento de que o modo como se produz, distribui e consome comida está no centro da crise climática, e que os efeitos dessa relação se expressam de forma desigual entre grupos sociais. É a parte que explica por que o tema é urgente e quais realidades precisam ser transformadas.
Os princípios traduzem esse diagnóstico em valores e orientações éticas para a ação do Estado. Neles se firmam compromissos como o respeito ao Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a promoção da soberania alimentar, a justiça social e climática, e a valorização da sociobiodiversidade. São as diretrizes que indicam como as políticas devem ser conduzidas – de modo participativo, equitativo e sustentável.
Por fim, os caminhos correspondem aos eixos estratégicos de implementação. É a parte mais prática do documento, voltada a o que fazer para concretizar a transição dos sistemas alimentares. Esses caminhos tratam de temas como a governança interfederativa, a integração de políticas setoriais, o fortalecimento da agricultura familiar e da agroecologia, a redução do desperdício de alimentos e a criação de mecanismos de monitoramento e avaliação.
Federalismo climático
O texto reconhece a fragmentação que ainda marca a execução das políticas públicas. Cada ministério ou secretaria atua dentro dos próprios limites, enquanto os problemas – seca, enchente, insegurança alimentar, contaminação do solo – não respeitam divisões institucionais. É nesse ponto que entra a proposta de uma governança capaz de articular essas partes, ligando o planejamento federal à execução local.
Para isso, o referencial propõe o que chama de federalismo climático: um pacto entre União, estados, Distrito Federal e municípios para que a transição alimentar e ambiental avance de forma coordenada.
A ideia é que cada esfera tenha um papel definido (planejar, executar, financiar, monitorar). E que o faça com base em dados, instrumentos de gestão e participação social. Em vez de ações isoladas, o documento sugere uma engrenagem capaz de manter o tema vivo, mesmo quando mudam os governos.
Instâncias como o Consea e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan) são citadas como peças-chave dessa articulação – uma voltada ao diálogo com a sociedade civil, outra à coordenação técnica entre órgãos federais.
O marco também insiste que é nos territórios que as políticas se concretizam. Por isso, convoca estados e municípios a incorporar alimentação e clima em seus instrumentos de gestão e orçamento, adaptando as diretrizes nacionais às realidades locais.
No documento, lê-se que “a opção foi por uma abordagem propositadamente abrangente a ser aprofundada, ampliada e detalhada nos diferentes níveis federativos, conforme contextos, especificidades e capacidades locais”.
Significa que cada esfera de governo deve adaptar as diretrizes a sua realidade – o que, segundo Elisabetta, ainda é um desafio. Ela aponta um exemplo recorrente: prefeituras em todo o país têm atribuições em áreas como saneamento, habitação e transporte urbano – temas obrigatórios em qualquer plano diretor. A alimentação, porém, raramente aparece nesse mesmo patamar, como parte da infraestrutura que sustenta a vida nas cidades.
“Enquanto se define o trajeto dos ônibus ou o destino do lixo, não se planeja onde as pessoas vão comprar comida. Feiras livres desaparecem por falta de espaço, mercados públicos envelhecem sem manutenção e bairros periféricos seguem sem acesso a frutas e verduras frescas.”
Limites importantes
Embora o Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas não mencione diretamente o lobby empresarial, reconhece que a formulação e a implementação de ações nessa área são atravessadas por disputas de poder e interesses divergentes.
O texto alerta que essas assimetrias podem comprometer a coerência das políticas e reduzir sua eficácia, sobretudo quando agendas privadas se impõem sobre o bem coletivo
Em linguagem cautelosa, o documento destaca a importância da transparência e da prevenção de conflitos, ao defender que a condução das estratégias deve assegurar “a primazia do interesse público” e uma “governança participativa e intersetorial”.
A escolha das palavras revela um diagnóstico implícito: o embate em torno da alimentação e do clima está longe de ser técnico – trata-se de um campo de disputa política, onde diferentes atores econômicos competem por influência sobre o Estado.
A menção aos conflitos de interesse ganha contorno prático diante do cenário recente. A discussão sobre a suspensão da Moratória da Soja – instrumento que proíbe a compra de grãos de áreas desmatadas na Amazônia – pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) simboliza a disputa que o próprio governo trava consigo mesmo: enquanto uma frente do governo tenta conter o desmatamento, outra afrouxa o freio.
Em agosto, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) reagiu com preocupação à medida preventiva, lembrando que o acordo – firmado há quase duas décadas entre empresas, governo e sociedade civil – foi decisivo para conter o desmatamento no bioma amazônico.
A pasta destacou que o pacto não configura prática anticompetitiva, mas coloca o país em posição de liderança ao provar que é possível produzir sem destruir. Entre 2006 e 2023, a área de soja na Amazônia cresceu 427% sem provocar novos desmatamentos – e quase 98% das derrubadas registradas no período não tiveram relação com a soja.
Para o ministério, ignorar esse histórico em nome de uma leitura restrita da livre iniciativa distorce o próprio espírito da Constituição, que também consagra a defesa do meio ambiente como princípio econômico.
O que é a Moratória da Soja?
Firmado em 2006 por grandes empresas exportadoras de soja, o acordo estabeleceu regras para conter o desmatamento na Amazônia. Definiu 22 de julho de 2008 como marco temporal a partir do qual as empresas se comprometeram a não comprar soja produzida em áreas convertidas após essa data. Baseado em autorregulação, o pacto buscou compatibilizar expansão agrícola e preservação ambiental.
Efeito restrito
Não faltam exemplos de como a política climática brasileira insiste em andar para um lado enquanto a agenda alimentar sustentável aponta para outro. A isenção de carnes na reforma tributária e o desvio de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) para a pecuária são alguns deles.
Outro sintoma dessa contradição é o histórico do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), adiado 11 vezes até ser finalmente instituído por decreto, em junho deste ano.
Mais significativo, porém, é o movimento de representantes do agronegócio para deslegitimar o Plano Clima e relativizar os dados que identificam o setor como maior fonte das emissões brasileiras.
Fato é que o Brasil – não raro rotulado como “celeiro do mundo” – ainda mantém a alimentação e a agricultura à margem de sua política climática.
Mesmo sendo um dos maiores emissores globais ligados à produção de alimentos, o país segue sem integrar plenamente seus sistemas alimentares às metas de mitigação e adaptação do Acordo de Paris.
O Índice de Avaliação dos Sistemas Alimentares nas NDCs, lançado pela Mercy for Animals e parceiros durante a Semana do Clima de Nova York, mostra que o Brasil obteve apenas 6 pontos em 12 possíveis – um desempenho classificado como “fraco”.
A ferramenta identifica avanços pontuais na produção e nas perdas agrícolas. Mas o país ainda carece de medidas relevantes para distribuição, processamento, consumo sustentável e redução do desperdício – áreas decisivas para alinhar o sistema alimentar à transição climática.
Lilian Rahal, a secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reconhece que o marco tem um limite que ele próprio não pode contornar. É que sua intenção é orientar – não impor. Ao fim e ao cabo, as diretrizes ali reunidas dependem da adesão voluntária de gestores e da disposição política de cada instância pública.
Essa característica torna o conteúdo valioso como referência conceitual, mas vulnerável à falta de continuidade – especialmente em um país onde políticas públicas ainda oscilam ao sabor das mudanças de governo. “Não é um caminho fácil. Ainda assim, é um caminho possível”, afirma Lilian.
O governo federal deve levar o Marco de Referência de Sistemas Alimentares e Clima para Políticas Públicas à 30ª Conferência do Clima da ONU (COP 30), que ocorre em novembro em Belém. Será a primeira conferência do clima a reconhecer oficialmente os sistemas alimentares como eixo estruturante das negociações.