Lapsos, estranhas coincidências e fé inabalável na boa vontade da indústria de alimentos atrasaram em 18 anos a restrição do aditivo no Brasil
Em julho, começam a valer as regras de eliminação da gordura trans industrial no Brasil. No momento em que a regulamentação entrar em vigor, terão se passado 18 anos desde que a Dinamarca se tornou o primeiro país a aprovar uma lei para banir o aditivo. E também desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que as gorduras trans deveriam representar menos de 1% das calorias que ingerimos diariamente pois, àquela altura, já existiam evidências científicas convincentes de que aumentavam o risco para doenças cardiovasculares.
Há uma primeira fase que vai de julho deste ano a julho de 2022 e estabelece um limite de 2% de gordura trans em relação à gordura total em todos os alimentos e óleos, assim como acontece em países como Dinamarca, Chile, Equador e Uruguai.
A partir de janeiro de 2023, o Brasil adota o modelo de países como EUA e Canadá, banindo o uso dos óleos parcialmente hidrogenados.
Nas quase duas décadas em que o Brasil adiou a decisão de banir o aditivo, o país acumulou 334.368 mortes por doenças coronarianas atribuídas ao consumo excessivo de gordura trans – quase o mesmo número das mortes causadas pela covid-19 entre nós até meados de abril. Com a diferença de que o aditivo não surgiu naturalmente: foi inventado e amplamente utilizado pela indústria com o principal propósito de reduzir custos. E como a catástrofe aconteceu a conta-gotas, de forma praticamente invisível, foi mais fácil ainda empurrar a solução com a barriga.
Assista à reportagem em vídeo
A origem das trans industriais
A história da gordura trans talvez revele melhor do que qualquer outra a lógica que guia a indústria de produtos alimentícios. Tudo começou com a busca por substituir gorduras naturais, que foram por séculos usadas para produzir os mais variados alimentos, por algo mais barato, menos perecível e que servisse de base para muitas formulações. Assim, ao invés da manteiga de cacau, os chocolates passaram a ser produzidos com óleo vegetal. Ao invés de creme de leite, os iogurtes começaram a levar… adivinha o quê? Óleo vegetal.
A invenção que tornou a substituição possível foi criada em 1902 e atende pelo nome de hidrogenação. E é justamente esse processo tecnológico a principal fonte de gorduras trans.
A hidrogenação é uma reação química que solidifica óleos por meio do bombeamento de gás hidrogênio em condições de alta temperatura e pressão. Se feita até o fim, não produz trans, mas tem como resultado uma gordura que, em temperatura ambiente, tem a consistência de uma vela. Em busca de algo mais versátil, a indústria historicamente optou pela hidrogenação parcial – que produz muita, mas muita gordura trans.
“As gorduras que a gente consome são formadas por moléculas que, por sua vez, são compostas por ácidos graxos. Na natureza, quase todos esses ácidos graxos estão na conformação cis que, no jargão da química orgânica, quer dizer que estão dispostos de forma simétrica. A hidrogenação provoca um rearranjo molecular que deixa os ácidos graxos em posições assimétricas, na conformação trans”, explica Juliana Ract, do Departamento de Tecnologia Bioquímico-Farmacêutica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.
E como os ácidos graxos são combustível para as células, essa mudança tem efeitos na nossa saúde.
Hoje, a ciência já acumulou evidências de que a ingestão de gorduras trans industriais aumenta o risco de morte por qualquer causa em 34%, o risco de morte por doença coronariana em 28% e o risco de ocorrência de doença coronariana em 21%. Estima-se que esse consumo seja o responsável por meio milhão de mortes no mundo anualmente.
Mas tudo isso só começou a vir à tona a partir dos anos 90 – oito décadas depois que a indústria passou a lançar mão da hidrogenação parcial em suas formulações.
Em 2003, um comitê de especialistas reunido pela OMS e pela FAO alertou que a saúde do coração dependia de uma ingestão virtualmente nula de gorduras trans, recomendando que esse consumo não deveria chegar a 1% do total diário de calorias.
Trans em tudo
Àquela altura, contudo, essa recomendação não era nada fácil de seguir. A indústria de produtos alimentícios havia transformado os óleos vegetais parcialmente hidrogenados em pau para toda obra. Por consequência, as gorduras trans se tornaram onipresentes.
Nos bolos e biscoitos. Nos sorvetes. Nas comidas congeladas. Naqueles tabletes de caldos prontos. Nos molhos. Nos miojos. Nas pipocas de micro-ondas. Nas batatas fritas e salgadinhos. Também no biscoito de polvilho, um clássico das praias cariocas, e no mais tradicional dos lanches mineiros: o pão de queijo. Até na papinha do neném. E em outros produtos voltados para bebês e crianças. O escritório europeu da OMS achou gordura trans industrial em fórmulas infantis e lácteos. Elas também eram colocadas nos achocolatados.
“É um produto que não tem a menor necessidade de ter esse tipo de gordura”, observa Fábio Gomes, assessor regional em Nutrição e Atividade Física da Organização Panamericana de Saúde (Opas). “O objetivo era o seguinte: a indústria de lácteos desnatava o leite, tirava a gordura e a usava para fazer outras coisas. Ao invés de ser processado com aquela gordura natural, o leite ganhava gordura trans”.
Do ponto de vista da indústria, a hidrogenação parcial de óleos tem vantagens conhecidas: aumenta a validade dos produtos, confere mais tolerância ao calor, dá volume… O Joio conversou com um consultor de empresas do ramo que preferiu não se identificar, mas explicou que a hidrogenação facilita o objetivo de criar sensações prazerosas nos consumidores.
“É uma gordura que se mantém sólida na temperatura ambiente. Você tira um chocolate da embalagem e parte um pedaço, ouve o ‘crack’. Na temperatura corporal, ele derrete na boca. Tudo isso é pensado, o ‘crack’ é um critério de qualidade levado em conta na formulação do produto”, disse.
Durante muito tempo a indústria de ultraprocessados viveu um verdadeiro ganha-ganha. Antes dos anos 90, a substituição de fontes de ácidos graxos saturados, presentes na gordura do leite e na banha, por exemplo, por produtos feitos a partir de óleos vegetais como soja e milho, que têm mais ácidos graxos poli e monoinsaturados, foi estimulada por médicos.
Em Nutricionismo – livro que foi lançado no Brasil pela Editora Elefante, em parceria com o Joio e a ACT Promoção da Saúde –, o pesquisador Gyorgy Scrinis sintetiza essa história a partir de seu maior símbolo: a margarina.
O produto foi criado no século 19 sob encomenda do governo francês, que queria colocar uma gordura mais barata do que a manteiga na mesa da classe trabalhadora. Tinha como matéria-prima o sebo, ao invés do creme de leite. Nos anos 1950, a margarina começou a ser feita com óleo vegetal. E, por isso, passou a ser considerada por cardiologistas e nutricionistas mais saudável do que a manteiga, já que eles não deram atenção para como esse óleo estava sendo processado.
Barata e supostamente saudável, a margarina passou a ser uma das principais fontes de gordura trans durante boa parte do século 20 – o que, na avaliação de Ross Hume Hall, um dos poucos cientistas que atentavam para o problema da hidrogenação já na década de 70, submeteu involuntariamente populações inteiras a um “enorme experimento” de consumo de trans.

Margarina, o camaleão nutricêntrico, vem causando problemas há décadas. Foto: Adobe Stock
Dinamarca: primeira a agir
Nos anos 70, os dinamarqueses consumiam em média 7,5 gramas de gordura trans industrial por dia. Duas décadas depois, esse número tinha diminuído consideravelmente, ficando em 3,5 gramas – mas, desse total, 2,5 gramas vinham de uma única fonte: a margarina. E ainda havia um segmento da população, que abarcava 150 mil pessoas, no qual o consumo diário de trans ultrapassava 5 gramas.
O fato de esses dados existirem tem muito a ver com a repercussão na Dinamarca do primeiro grande estudo sobre gordura trans, que saiu em 1993 na Lancet. Pesquisadores de Harvard acompanharam mais de 85 mil mulheres por oito anos e concluíram que um consumo alto de trans, na casa dos 5 gramas, elevava em 50% as chances de desenvolver doença coronariana.
Um dia depois da publicação do estudo, o país decidiu que era necessário saber em que pé estava o consumo de gordura trans. Foram publicados três relatórios nacionais. O segundo deles, de 2001, mostrou como era fácil ultrapassar os 5 gramas diários de trans: bastava comer waffle no café da manhã, depois mandar para dentro um saco de pipoca de micro-ondas à tarde e terminar o dia jantando uma porção de frango frito e batatas fritas compradas no McDonald’s ou no KFC, por exemplo.
Essas conclusões receberam grande atenção da mídia, o que acabou fazendo uma pressão crescente sobre a indústria – que começou a anunciar intenções de reduzir voluntariamente os teores de trans em produtos como a margarina.
O governo dinamarquês, contudo, não mordeu a isca e partiu para a regulação. Em março de 2003, apresentou ao parlamento um projeto de lei que eliminava, virtualmente, as gorduras trans do mercado ao limitar sua presença em até 2% da quantidade total de gordura em todos os alimentos, inclusive os importados. Os parlamentares aprovaram a lei com um prazo de adaptação de sete meses, previsão de multas para quem desrespeitasse, e até prisão para quem reincidisse. Assim, em janeiro de 2004, a Dinamarca se tornou o primeiro país a banir a gordura trans.
Os resultados vieram: nos anos anteriores à política, a média anual de mortes por doença coronariana era de 441,5 por 100 mil habitantes – número que despencou para 210,9 mortes a cada 100 mil habitantes em 2012.

A Dinamarca, primeiro país a banir as gorduras trans, calculou o que seria necessário para extrapolar o limite diário de consumo. Montagem: O Joio e O Trigo
Enquanto isso, no Brasil...
Por aqui, nos últimos 15 anos, toda a proteção que os brasileiros tiveram contra as gorduras trans se resume à tabela nutricional.
Em 2003, o Mercosul decidiu harmonizar informações que apareciam nos rótulos de alimentos. Os fabricantes e importadores de Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil foram obrigados a declarar o teor de carboidratos, proteínas, sódio, gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans nas embalagens.
Coube à Anvisa regulamentar por aqui a decisão do bloco. Em dezembro daquele ano, a agência editou duas resoluções (359 e 360) sobre o assunto, dando à indústria 30 meses para se adaptar. Ou seja, as tabelas nutricionais começaram a valer em 2006.
Segundo a OMS, esse tipo de medida é útil porque encoraja consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis no momento da compra. Mas, sozinha, não faz verão se o objetivo é restringir o consumo de gordura trans pela população.
Isso porque não necessariamente todas as pessoas sabem o que significa gordura trans. Além disso, não existe rótulo no alimento consumido na rua em restaurantes, bares e comércio informal – e parte deles também tem gordura trans industrial não só pelos produtos que vendem.
É que as trans industriais também podem ser formadas no refino de óleos vegetais e, ainda, quando óleos e gorduras são aquecidos e reaquecidos, como durante a fritura e cozimento.

No Brasil, fabricantes podem declarar que um produto tem zero trans, mesmo que isso seja mentira
Além disso, no caso brasileiro, os fabricantes podem declarar na tabela nutricional que um produto tem zero trans mesmo que isso seja mentira – e nem por isso estão violando a norma sanitária.
Essa malandragem é permitida em produtos que tenham abaixo de 0,2g de gordura trans por porção. Acontece que um pacote com 100g de produto pode levar em consideração uma porção de, por exemplo, 30g. Se esse produto é um biscoito, é muito provável que a pessoa abra o pacote e o coma inteiro.
A norma brasileira também permite que as empresas façam aquelas propagandas na parte da frente da embalagem – “zero gordura trans” – se os produtos apresentam menos de 0,1g de trans… por porção.
Um estudo brasileiro publicado em 2018 encontrou ingredientes de gordura trans em 24% de um total de 160 produtos que exibiam alegações “zero trans”.
“Uma pessoa que consome produtos ‘zero trans’ durante o dia pode estar consumindo produtos com gordura trans que, se somados, podem levá-la a ultrapassar o limite diário considerado razoável. E a gente sabe que o consumo de qualquer quantidade de gordura trans é maléfico”, explica Laís Amaral, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e uma das autoras do estudo.

O pão de queijo congelado, onipresente em lanches infantis, é um dos exemplos de uso disseminado de gorduras trans. Foto: Adobe Stock
Para Anvisa, banimento era ‘inviável’
Depois da lei dinamarquesa, foi a vez de a cidade de Nova Iorque banir a gordura trans em 2006. O Brasil poderia ter feito parte dessa vanguarda.
Em abril de 2007, o senador Paulo Paim (PT-RS) apresentou um projeto de lei com a intenção de proibir o uso de gordura trans nos alimentos. O PLS 181 previa um prazo de adaptação de dois anos e, durante esse período, estabelecia uma forma bem clara de alertar o consumidor. As empresas teriam que colocar uma tarja preta nas embalagens para informar se o produto tinha gordura trans.
O PLS 181 também previa uma punição dura para quem desrespeitasse o banimento quando ele começasse a valer: a cassação dos alvarás das empresas.
Como justificativa, o senador citava a movimentação de outros países para eliminar a gordura trans industrial dos alimentos, e também estudos científicos.
Também em abril, a Organização Panamericana da Saúde concluiu os trabalhos de um esforço que reuniu especialistas e autoridades sanitárias de vários países – incluindo o Brasil – para revisar dados de consumo e evidências científicas a respeito das gorduras trans.
O grupo de especialistas recomendou que os países aprovassem leis estabelecendo limites de 2% de gordura trans na quantidade total de gorduras em óleos vegetais e margarinas cremosas, e menos de 5% em todos os outros alimentos.
Mas, por aqui, as próprias autoridades sanitárias não colaboraram para isso.
Em 2007, a Anvisa considera "inviável" o banimento gradual das gorduras trans no Brasil
Por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), o Joio obteve atas das reuniões da Câmara Setorial de Alimentos da Anvisa. O fórum foi criado em 2006, tinha caráter consultivo e reunia instituições de pesquisa, entidades da sociedade civil, autoridades do governo federal e o setor regulado.
Uma generosa fatia dos assentos era reservada aos representantes dos interesses privados. Marcavam presença a Federação Nacional de Hotéis, Restaurantes e Bares, a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos Dietéticos, a Associação Brasileira dos Supermercados, a Associação Brasileira de Embalagens, a Associação Brasileira de Bebidas e, claro, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, a Abia.
Na reunião de 18 de setembro de 2007, a então gerente de produtos especiais da Anvisa, Antônia Maria de Aquino, faz um relato no mínimo curioso aos integrantes da Câmara. Segundo ela, a agência havia participado de duas reuniões com Paim, nas quais se “explicou sobre a inviabilidade das proposituras do senador”.
No segundo encontro, que havia acontecido no dia 10 de setembro – portanto apenas uma semana antes do seu relato –, Antônia Maria de Aquino informou que, além de representantes de três gerências da Anvisa, incluindo a que ela chefiava, o “setor produtivo” marcou presença.
“Eu me lembro dessas reuniões. A Anvisa não demonstrou interesse em apoiar o projeto, os técnicos apontavam mil entraves, muito de acordo com a indústria. Eles argumentavam que era impossível, e eu rebatia que o projeto já previa uma fase de transição que poderia ser estendida ou mais escalonada”, conta Paim.
Questionado pelo Joio, o senador negou que tenha partido dele o convite para o “setor produtivo” participar da discussão, mas afirma que não ficou surpreso: “É um lobby muito forte, as agências não estão incólumes”.
Paim credita à atuação do poder econômico o lento naufrágio do PLS 181, travado legislaturas inteiras por relatores como Serys Slhessarenko (PT-MT) e Mão Santa (MDB-PI), e que depois de 11 anos de tramitação acabou arquivado em 2018.
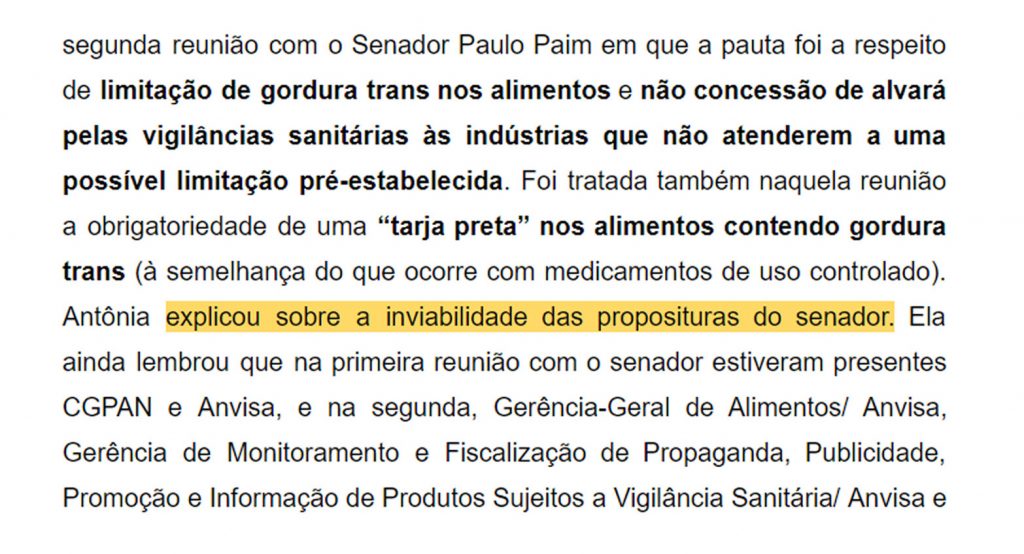
Trecho da ata da reunião ordinária da Câmara Setorial de Alimentos da Anvisa.
Abia se prepara para “tendência mundial”
Coincidência ou não, em agosto de 2007, quatro meses depois da apresentação dessa primeira tentativa de regulação do uso da gordura trans no Brasil, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos promoveu um workshop sobre o assunto. Entre os convidados, lá estava a relatora do PLS 181, a então senadora Serys Slhessarenko. E também técnicos da Anvisa.
Segundo um documento do workshop obtido pelo Joio, a premissa do encontro era a seguinte: já que a redução das gorduras trans industriais era “uma tendência mundial”, o Brasil não poderia “ficar ao largo”. Portanto, era preciso que a indústria se preparasse para que “a retirada ou redução” fosse “planejada e gradual” – e decidida por meio de um “consenso” entre “o Congresso, o governo, a indústria e a academia”.
E quando se fala em “academia” se trata de um quinhão específico dela. O workshop foi promovido com o apoio do ILSI, um think tank mantido pelas corporações de ultraprocessados para mediar a relação entre ciência e órgãos públicos, favorável aos patrocinadores. E também em parceria com a Sociedade Brasileira de Óleos e Gorduras (SBOG), entidade criada nos anos 90 pelo professor da Unicamp Daniel Barrera-Arellano, com o objetivo de “unir os profissionais da área”, e que tem hoje em sua diretoria pesquisadores de universidades como USP, UFRJ e UFSC e executivos de empresas.
Além do consenso em torno de uma adaptação bem tranquila e favorável, a indústria também pleiteou que a conta do desenvolvimento de novas tecnologias que substituíssem a gordura trans fosse paga… pelos contribuintes brasileiros. Caberia ao governo federal oferecer linhas de financiamento com esse propósito.
O acordo com a Abia
Se não conseguiu emplacar a criação de uma linha de crédito para substituir um aditivo que, ao longo de décadas, rendeu lucros a suas associadas, a Abia seria alçada muito em breve à condição de aliada do Ministério da Saúde na “promoção da alimentação saudável”.
Dois meses depois do workshop, em novembro de 2007, a pasta firmou um acordo de cooperação técnica com a Abia que pode ser comparado a um tapete debaixo do qual se esconde a sujeira.
Isso porque a entidade – que reúne gigantes como Bunge e Cargill, empresas que têm divisões de negócios específicas para vender gordura trans até hoje – foi escolhida pelo ministério para traçar um “plano nacional de vida saudável” e formar, com a Anvisa, um grupo técnico (GT) instituído por uma portaria um mês depois.
O GT deveria estabelecer “uma estratégia gradativa de redução dos teores de açúcares livres, sódio, gorduras saturadas e ácidos graxos trans em alimentos processados”.
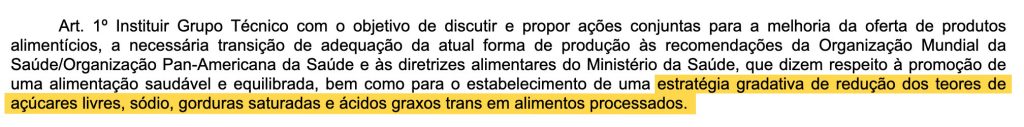
Documentos do Ministério da Saúde obtidos via LAI pelo Joio mostram que, no caso das trans, ficou definido que as associadas da Abia deveriam atingir, num prazo de dois anos, aqueles limites recomendados pela Opas, de 2% de gordura trans na quantidade total de gorduras em óleos vegetais e margarinas, e menos de 5% nos outros produtos.
Um detalhe que chama a atenção nessa história é que a coordenadora-geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGAN) do ministério na época, Ana Beatriz Pinto de Almeida Vasconcellos, foi uma das 21 integrantes do grupo de especialistas da Opas que havia recomendado meses antes que:
“Ainda que ações voluntárias da indústria de alimentos sejam bem-vindas, a ação de regulamentação é necessária para mais rápida e eficazmente proteger a saúde da população da região”.
Vasconcellos, que também integrava a Câmara Setorial de Alimentos da Anvisa, vinha defendendo naquele fórum “pactos e compromissos para redução dos níveis de substâncias prejudiciais à saúde”.
O Joio tentou contato com Vasconcellos via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão que a havia cedido para o Ministério da Saúde, mas obteve como resposta que a servidora está aposentada.
Mas a Opas também dava sinais trocados e, apesar de reconhecer que a regulamentação seria mais rápida do que ações voluntárias das empresas, se comprometia a “trabalhar com líderes da indústria para identificar um ponto de confluência”.
Nesse sentido, costurou com fabricantes de alimentos ultraprocessados e óleos de cozinha um documento conhecido como “Declaração do Rio”, assinado em junho de 2008 por empresas como Cargill – e também pela Abia.
Os problemas de monitoramento
Uma vez que optou pela via do voluntarismo, era de se esperar que o governo federal pelo menos monitorasse a indústria no cumprimento da meta como aconteceu em outros países que seguiram um tempo por esse caminho, caso do Canadá. Não foi o que aconteceu.
A única iniciativa de monitoramento das gorduras trans industriais colocada no horizonte governamental não estava relacionada ao acordo com a Abia, vinha de antes no bojo de um projeto chamado Perfil Nutricional dos Alimentos Processados.
Parte desse perfil envolvia a análise do teor de trans industrial em oito categorias de produtos: batata frita ondulada, salgadinho de milho, cream cracker, biscoito maisena, biscoito recheado com sabor de chocolate, miojo, bisnaguinha e minibolo.
A ideia era que a coleta e análise das amostras ficasse sob responsabilidade do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), vinculado à Fiocruz, mas no final foram usados dados do Instituto Adolfo Lutz (IAL) que, desde 2005, vinha analisando o teor de gordura trans de alguns dos alimentos mais consumidos no estado São Paulo – e, até hoje, segue sendo o único laboratório público capaz de fazer esse tipo de estudo.
A Anvisa aproveitou basicamente as análises de biscoitos (cream cracker, salgadinhos de milho, água e sal, salgado e de polvilho), embora o IAL também tivesse estudos sobre margarinas e óleos, por exemplo.
O campeão em teor de gordura trans foi o biscoito de polvilho. A análise captou produtos que podiam ter até cinco vezes mais gorduras trans do que o limite diário de consumo estabelecido como seguro pela OMS, que é de 0,2g. Mas também havia níveis preocupantes no biscoito salgado, no biscoito de água e sal e no salgadinho de milho.
A Anvisa reuniu esses resultados em um informe técnico publicado em 2010, mesmo ano em que o alcance da meta de eliminação das gorduras trans acertada entre o Ministério da Saúde e a Abia teria que ser avaliado.
Mas a pasta acabou deixando na mão da própria Abia essa avaliação. A entidade, por sua vez, se pautou unicamente pelo relato dos associados para prestar contas sobre o acordo.
A consulta abarcou 135 empresas que representavam, na época, 73% da produção de alimentos no país, e abrangeu 12 categorias de produtos: snacks, massas instantâneas, sorvetes, caldos, chocolates, sopas, panetones, óleos, pratos prontos, biscoitos, bolos e margarinas.
A Abia chegou à conclusão de que praticamente um terço (32,4%) das fabricantes de margarinas ainda não tinha atingido aquela meta de redução de 2% recomendada pela Opas. Embora a meta fosse maior, de 5%, isso também aconteceu com 12,3% dos fabricantes de biscoitos e com 8,3% dos de pratos prontos.
Os números foram melhores para caldos (1,2% das fabricantes associadas à Abia relataram não terem atingido a meta), chocolates (0,8%), bolos (0,6%) e sorvetes (0,3%).
No caso dos óleos, 96% das associadas responderam ter atingido a meta, mas as 4% restantes simplesmente não responderam. O mesmo aconteceu com as sopas (98,8% atingiram; 1,2% não responderam).
Os únicos produtos pesquisados que atingiram integralmente a meta foram miojo, panetones e snacks.
Embora não dê para saber as marcas pesquisadas naquele diagnóstico laboratorial divulgado pela Anvisa, não é improvável que alguns daqueles biscoitos que ostentavam teores preocupantes de trans fossem fabricados por empresas ligadas à Abia. Caberia ao Ministério da Saúde cruzar essas informações para verificar, ao menos, se os snacks estavam dentro dos parâmetros, conforme relatava a Abia.
A metodologia usada pela entidade tem também uma outra falha porque não compara esses números com os dados no ponto de partida do acordo. Sendo assim, não dá nem para ter uma ideia do seu impacto na reformulação de produtos com gordura trans, já que muitas associadas da Abia são multinacionais que já poderiam ter implementado adaptações desde então, por estarem sujeitas a banimentos em outros lugares.

O biscoito de polvilho das praias cariocas é mais um exemplo de presença constante de gorduras trans. Foto: Adobe Stock
Ministério renova acordo, mas esquece de cobrar
Em 2009, o Chile tinha aprovado uma regulação com os limites da Opas. Em 2010, foi a vez da Argentina fazer o mesmo. Mas o Ministério da Saúde novamente não pensou na via da regulação que já começava a ser adotada pelos países sul-americanos e dobrou sua aposta no voluntarismo.
Anos depois, o estudo Impact of Nonoptimal Intakes of Saturated, Polyunsaturated, and Trans Fat on Global Burdens of Coronary Heart Disease estimaria que, em 2010, ocorreram 18.576 mortes por doença coronariana atribuídas ao consumo de ácidos graxos trans de origem industrial no Brasil.
Em novembro de 2010, a pasta prorrogou aquela portaria que criava o GT com a Abia e a Anvisa por mais três anos. A justificativa mais forte foi justamente “a importância de alcançar a totalidade da meta para redução de gorduras trans, especialmente em relação às margarinas e cremes vegetais”.
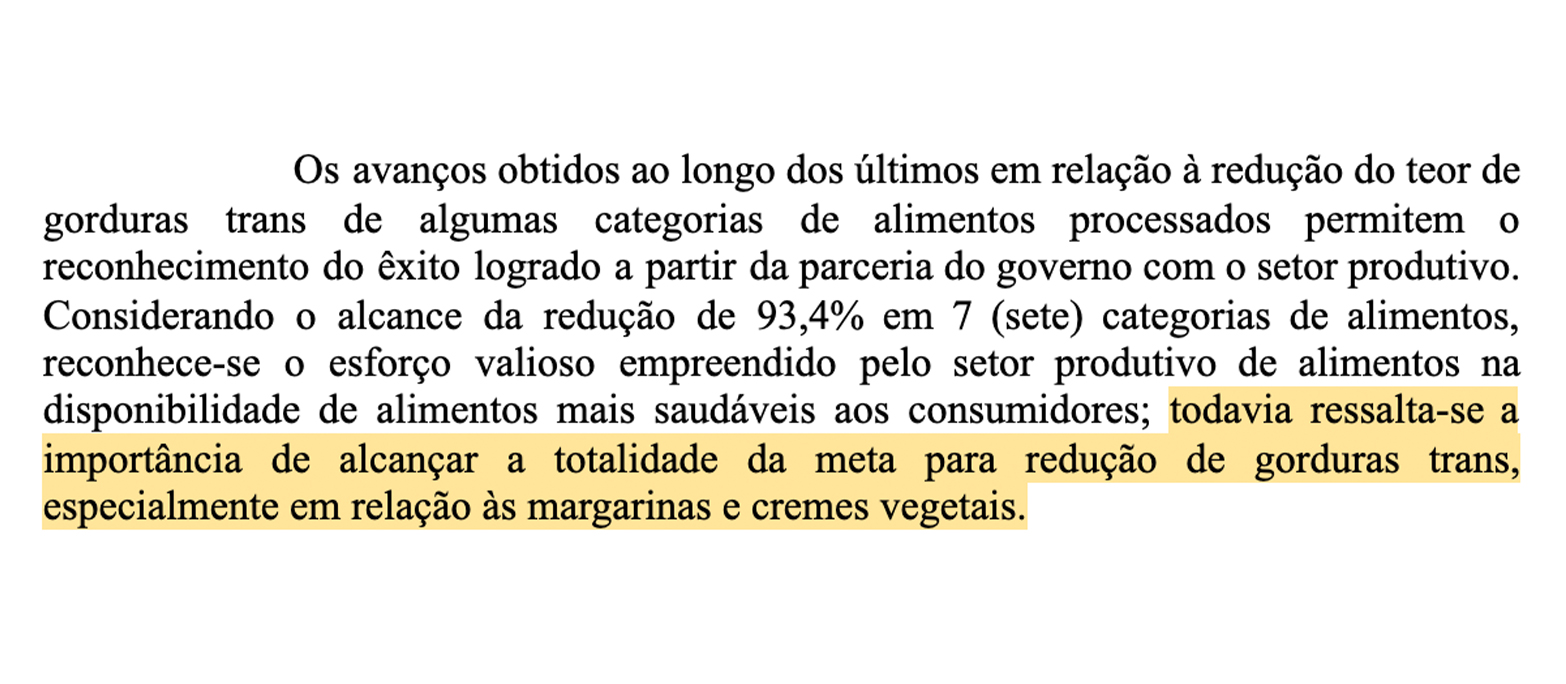
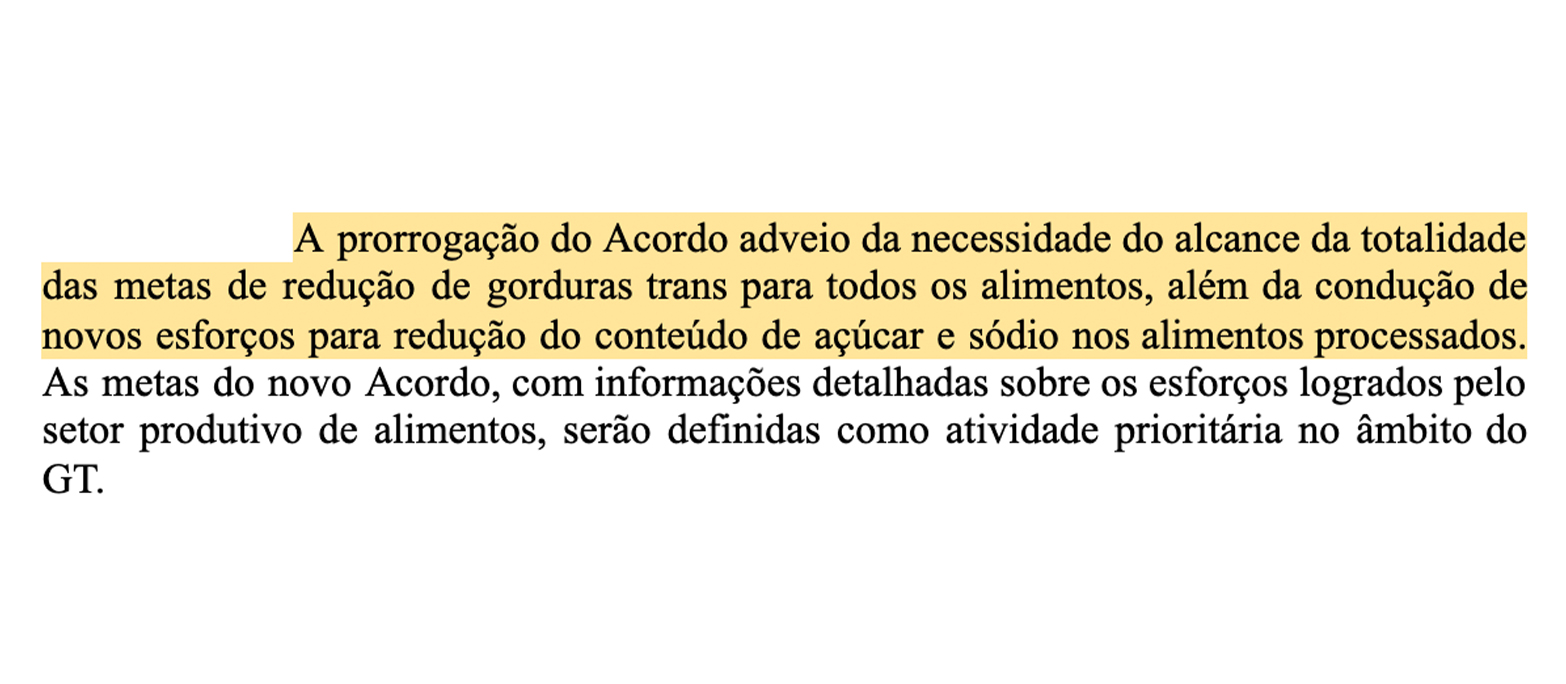
Trechos da nota técnica do relatório gorduras trans
É aí que acontece o lance mais estranho de toda essa história: o assunto foi simplesmente esquecido pelo Ministério da Saúde. Sumiu na fumaça.
É isso mesmo: a própria indústria se monitorou e concluiu que não atingiu a meta, e o Ministério da Saúde, apesar de dizer que por isso mesmo era necessário renovar o acordo, não monitorou mais nada.
Como pano de fundo temos uma mudança de governo que, em tese, não deveria ser tão brusca pois sedimentou a continuidade do PT no comando do Executivo federal. Sai Lula em 2010, entra Dilma Rousseff em 2011. No Ministério da Saúde, isso se traduz na passagem do bastão de José Gomes Temporão, responsável pela assinatura do acordo com a Abia e também pela sua renovação, para Alexandre Padilha.

O ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), Edmundo Klotz, no ato de renovação do acordo, em 2010. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGAN) passou de Ana Beatriz Pinto de Almeida Vasconcellos para Patrícia Jaime.
Patricia respondeu às perguntas do Joio via texto. Ela conta que a gordura trans não estava no radar. “Na minha gestão na CGAN de 2011 a 2014 não tivemos agenda aberta (nem oculta) relacionada à gordura trans”, escreveu.
De acordo com ela, a pauta da reformulação de produtos alimentícios por meio de acordos com a indústria foi impulsionada pela Opas e teve como porta de entrada, na gestão anterior, a gordura trans. “Depois a agenda virou”, afirma, fazendo referência à redução do teor de sódio, objeto de dois termos de cooperação firmados pelo Ministério da Saúde em 2011 não só com a Abia, mas com outras entidades.
“Se você retomar os documentos da OMS verá que a agenda global deu mais ênfase a sódio do que a gordura trans”, diz. Jaime cita as nove metas que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu para monitorar a implementação do Plano de Ação Global para a Prevenção e Controle das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. A eliminação das gorduras trans, de fato, não estava entre as nove metas – embora o plano cite a substituição das trans por gorduras insaturadas no menu de políticas públicas para alimentação.
Além da mudança nas prioridades dos organismos internacionais, na avaliação de Jaime o sumiço sem desfecho do acordo das gorduras trans se deveu a outras agendas que “eram mais importantes e foram priorizadas”, como a atualização do Guia Alimentar para a População Brasileira, que começou em 2011.
“Claro que ter saído do foco de interesse e priorização do poder público pode ter sido positivo e conveniente para a indústria. Mas não houve acordo ou lobby que tenha induzido o movimento na CGAN”, diz ela. E conclui: “Agora, por que, e se devia ter saído da pauta, ou não ter sido priorizado, tem muito espaço para reflexão e crítica”.
A própria indústria se monitorou e concluiu que não atingiu a meta, e o Ministério da Saúde, apesar de dizer que por isso mesmo era necessário renovar o acordo, não monitorou mais nada.
Finalmente, a regulação
O assunto só ressurgiria em 2016 pelas mãos não do Ministério da Saúde, mas da Anvisa, graças à pressão da sociedade civil, que aumentou depois que a FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, declarou que a gordura parcialmente hidrogenada não era mais considerada um aditivo seguro e, por isso, deveria ser banida do mercado.
Àquela altura, ao cordão dos países sul-americanos que tinham decidido pela via da regulação além do Chile e da Argentina, tinham se somado Colômbia (2012), Equador (2013) e Peru (2016).
O processo regulatório brasileiro só começou em 2018. Três fontes que acompanharam as discussões afirmam ao Joio que a indústria não deu trabalho nenhum. Avaliam que as grandes empresas já tinham adiado a regulamentação por tempo suficiente, garantindo uma janela confortável de adaptação.
O principal esforço da sociedade civil foi no sentido de diminuir os prazos de implementação da norma, e as contribuições à consulta pública bateram principalmente nessa tecla. Já de parte da indústria “houve um processo intenso para a Anvisa manter sua proposta”, segundo Ana Flávia Rezende, que coordenou o projeto Pela Saúde do Coração, Gordura Trans Não, fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Nutrição (CFN) e a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran).
A proposta da agência previa que a norma entrasse em vigor em julho de 2021. Os representantes da sociedade civil queriam que esse prazo fosse reduzido em 12 meses. Usaram como argumento a urgência diante do grave problema de saúde pública. Afinal de contas, mortes seriam evitadas.
Nossa regulamentação foi aprovada em dezembro de 2019 com o prazo mais amplo de adaptação. Mesmo assim, é considerada muito boa por seguir as recomendações da OMS.

