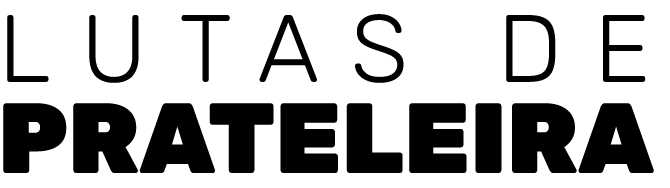
A crise climática é real e a causa ambiental é mais do que legítima, mas poder econômico transforma a luta em lucro
A paraense Tainá Marajoara é contundente nas ações e nos discursos pela preservação da Floresta Amazônica. Fundadora do Instituto Iacitata, ela defende com unhas, dentes e inteligência a cultura alimentar e a soberania dos povos tradicionais da Amazônia. “As mesmas empresas [multinacionais alimentícias, principalmente] que dizem valorizar a floresta e as culturas das populações locais são as que chegam aqui com a mentalidade colonizadora e levam à destruição dos biomas e a violação dos direitos das comunidades”, critica.
Sem papas na língua, ela conta que as mesmas corporações que criam uma imagem de que a Amazônia e os povos locais são as “coisas mais valiosas do mundo” estão na região batendo recordes internacionais nada louváveis. “[as corporações] batem recordes de trabalho escravo, conflitos agrários, mortes de lideranças [de coletivos e movimentos sociais], tráfico de pessoas, exploração infantil, exploração sexual e ainda da concentração de renda, terra e poder”, afirma.
Para ela, a apropriação da bandeira ambiental e social na Amazônia fica evidente quando essas megaempresas “utilizam a Floresta Amazônica em programas de segurança, de soberania alimentar e financiam festivais de gastronomia” (casos de Coca-Cola e Ambev, como o Joio já mostrou) .
E em tempos de pandemia, os esforços das empresas de se posicionar como ambientalmente responsáveis têm se intensificado.
Vivian Mocellin, ambientalista que também atua na área de direitos animais, tendo passado por diversas ONGs, diz que, dessa forma, muitas pessoas que procuram legitimamente não compactuar com a destruição ambiental terminam como impulsionadoras do lucro das mesmas empresas de sempre. “Só vai ter um nicho diferente, mais um produto e eles [as empresas de sempre] vão continuar vendendo aqueles produtos que vão ter o mesmo impacto negativo de sempre”, comenta.
Essa forçação de barra para criar uma imagem de sustentabilidade, é chamada de“greenwashing” ou “lavagem verde”, em tradução livre. Geralmente, o greenwashing é acompanhado de práticas que procuram posicionar a empresa como socialmente responsável, o “socialwashing”.
As estratégias para construir a imagem de uma empresa sustentável são diversas. Uma das mais comuns é o lançamento de produtos “ecológicos”. Via de regra, os rótulos e embalagens contam histórias sobre “promover a sustentabilidade”. Muitas vezes, com informações enganosas.
Um relatório da Market Analysis – empresa nacional que pesquisa sustentabilidade – quantificou quantos produtos com apelos ecológicos em embalagens trazem informações enganosas no Brasil. Em uma visita a diversos comércios do país, foram encontrados 887 em 501 produtos.
34% dos produtos continham afirmações não comprovadas, enquanto 14% deles apresentaram rótulos que dão a impressão de endosso do produto por terceiras partes (organizações da sociedade civil, por exemplo), quando essa aprovação não existe de fato.
O relatório também denunciou que 55% dos produtos analisados continham apelos vagos ou irrelevantes. Um exemplo disso é usar termos como “produto verde” ou “ecologicamente correto” sem contextualização.
As marcas e produtos avaliados pela pesquisa mostram um “ambientalismo performático”, que usa e abusa de termos como “biodegradável”, “reciclável”, “verde”, “natural” para vender uma ideia, ao mesmo tempo em que banalizam essas palavras.
Mesmo quando a mensagem não é necessariamente falsa, o que não está dito pode ser tão ou mais relevante, como aponta Iagûary, pessoa não-binária que prefere usar um pseudônimo para evitar retaliações e se descreve não como uma ativista, mas como “uma caminhante que se mobiliza por questões socioambientais e das dissidências sexuais no Ceará”.
Iagûary se envolve em ações que incluem “compartilhar materiais de estudo e ações sobre construir autonomia alimentar, proteção e cuidado coletivo, eliminar mediações burocráticas em relação a gestão dos recursos, da água, da moradia, do uso e ocupação do solo no campo e na cidade”
De acordo com ela, esses selos com nomes como “orgânico” ou “vegano”, que “podem significar eliminação de pesticidas, ou de maus-tratos de animais, não garantem que não haja por trás uma “monocultura orgânica”, ou uma terra envenenada, cujos proprietários dizem produzir “vegano”, mesmo matando várias espécies animais no processo.
Outra estratégia das grandes marcas do setor alimentício é comprar empresas menores associadas ao “consumo consciente”. A exemplo da Coca-Cola adquirindo fabricantes de sucos regionais ou a PepsiCo investindo em empreendimentos de água de coco em caixinha.
Marília Cunha, ativista ambiental e de causas indígenas, uma das fundadoras da Coalizão Pelo Clima de São Paulo, avalia que é difícil fiscalizar esse tipo de ação, mesmo quando ela é ilegal e pode até ser enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. “A fiscalização é lenta e essas pessoas [que representam os interesses do setor privado] estão no governo também. Estão nos órgãos fiscalizadores. Aliás, cada vez mais desmontados [pelo governo de Jair Bolsonaro]”, destaca.
“Auto-relatórios”
A divulgação de relatórios que detalham diferentes medidas sustentáveis adotadas, em tese, por corporações alimentícias pipocam na internet. No Brasil, esses documentos não são obrigatórios e não há nenhuma política de Estado para os regular. As empresas publicam o que bem entendem, transformando o que poderia ser um instrumento de monitoramento e avaliação públicos numa forma de propaganda.
Nas palavras de Vivian Mocellin: “As empresas não te dizem quem são os fornecedores para você fiscalizar. Não te dizem qual é o volume de produto x ou y [ingredientes] que usam, de onde vem esses produtos, de onde são extraídos. Tudo isso fica apagado”.
Esses relatórios têm se tornado cada vez mais populares entre empresas no Brasil. De acordo com uma análise produzida por uma parceria entre o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes (Ibracon) e a PwC Brasil, uma rede de empresas que presta serviços de auditoria e consultoria pelo mundo, 42% das empresas que compõem o Índice Bovespa publicam relatórios de sustentabilidade.
Apenas 30% desses documentos foram verificados por auditorias independentes, enquanto outros 27% foram assegurados por assessorias ou de outra forma. A maioria, um total de 43%, não foi assegurada ou verificada por nenhuma instituição
As informações extraídas dos relatórios também são impulsionadas por ações de marketing e pelo reconhecimento de outras instituições com influência política e econômica em âmbito mundial.
A Nestlé, por exemplo, foi reconhecida, em 2017, como “líder em sustentabilidade no setor de alimentos e bebidas” pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade (da Bolsa de Valores de Nova Iorque), e se gaba disso em seu site.
O que o Dow Jones não diz é que a multinacional suíça foi apontada como uma das maiores responsáveis pela poluição por plástico, segundo a edição de 2021 do relatório anual da Break Free From Plastic, uma coalizão mundial de mais de 11 mil organizações formada em 2016 com o objetivo de reduzir o uso de plástico no planeta.
O relatório da coalizão aponta a Nestlé como a quarta maior poluidora mundial. O primeiro lugar fica com a Coca-Cola, seguida pela PepsiCo e depois a Unilever , outras que se colocam como empresas ecológicas e socialmente responsáveis, como mostram promessas e relatórios de sustentabilidade.
A Break Free From Plastic também implicou outras gigantes do setor alimentício que se posicionam como sustentáveis, como Danone, Mondelez International, Mars Incorporated e McDonald’s.
A Danone, por exemplo, anunciou em março de 2020, planos para reduzir pela metade a quantidade de plástico não-reciclado em marcas de água engarrafada. No mesmo mês, a Mondelez também prometeu uma redução no uso de plástico do mesmo tipo.
Apesar disso, um relatório lançado pela Changing Markets Foundation, – uma fundação pela sustentabilidade sediada na Holanda – em setembro de 2020 mostrou que ao longo das últimas décadas essas corporações têm feito promessas e estabelecido metas que não cumprem.
Prêmios parceiros do “agrowashing”
Outro exemplo de greenwashing marcante vem da multinacional do agronegócio Cargill, que foi apontada pelo Greenpeace como uma das maiores responsáveis pelo desmatamento da Amazônia junto com a Bunge e a Archer Daniels Midland (ADM).
Com uma receita de mais de 120 bilhões de dólares anuais, a estadunidense Cargill é uma das maiores fornecedoras de commodities do mundo, conhecida por vender soja, óleo de palma, gado e algodão, entre outros grandes cultivos.
A empresa tem um histórico de décadas de destruição dos biomas brasileiros. Mesmo assim, ela recebeu em 2014 sete prêmios por sustentabilidade do McDonald’s, para quem a Cargill fornece insumos para Big Mac’s e McNuggets de frango.
O interesse do McDonald’s em limpar a imagem da Cargill é óbvio: um esforço atrelado à melhora da própria imagem, ao mostrar produtos de fornecedores que adotam “práticas sustentáveis”. A premiação também evidencia a relação entre as diferentes etapas da cadeia de produção e fornecimento da indústria alimentícia.
Pandemia washing
Durante a pandemia, os esforços das empresas de se posicionar como socialmente e ambientalmente responsáveis se intensificaram, mesmo com fortes evidências de que o novo coronavírus tenha se espalhado pelo planeta tendo entre os motivos a crise ambiental causada por grandes corporações. Sem falar que o agronegócio tem potencial para ser a fonte da próxima pandemia.
Apesar disso, as empresas não têm medido esforços em se distanciar de qualquer responsabilidade e se posicionar como solidárias. As ações de socialwashing são constantes. E uma das principais estratégias usadas é a doação de alimentos.
Grande parte dessas ações foram divulgadas no Solidariedade SA, quadro da Globo dentro do Jornal Nacional, com o objetivo de divulgar a “bondade empresarial” em horário nobre de TV.
Por trás dessa “solidariedade”, houve muita hipocrisia. Se o quadro mostrou as ações sociais das empresas, nada se falou sobre as contradições entre essas ações e outras práticas corporativas. A JBS, por exemplo, forçou pessoas a trabalharem em situação de risco, mantendo a produção de diversos frigoríficos com funcionários com suspeita de covid-19.
Um frigorífico de aves no município de Ipumirim em Santa Catarina, da Seara Alimentos, do Grupo JBS, passava por um surto de covid com 86 pessoas infectadas quando foi interditado depois de uma fiscalização do Ministério do Trabalho.
Também não foi mencionado sobre o fato de que essas doações representaram valores pequenos se comparados às receitas das corporações. Parte do valor doado, inclusive, nem sai dos cofres das megaempresas Muitas vezes, elas pedem dinheiro para doadores ou alimentos para fornecedores, mesmo tendo recursos de sobre, como aponta a ativista ambiental Marília Cunha. Um exemplo é o IFood, empresa que teve um crescimento astronômico de faturamento durante a pandemia.
Contraditoriamente, as ações de solidariedade por parte de movimentos sociais como o MST, que já doou mais de cinco mil toneladas de alimentos durante a pandemia, ou das ações próprias de comunidades severamente afetadas, foram pouco ou nada abordadas pela mídia corporativa. Apesar dessas importantes mobilizações legítimas, a imagem que o quadro do Jornal Nacional passava é de que as empresas eram as grandes salvadoras do momento.
Outro problema das doações do setor alimentício é que as empresas têm feito grandes doações de cestas básicas que, como diz Tainá Marajoara, “estão repletas de ultraprocessados, de alimentos refinados, transgênicos, agrotóxicos, corantes, conservantes e toda a sorte de químicos que são considerados alimentos no Brasil e proibidos no resto do mundo.”
Esses alimentos deveriam ser evitados de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, já que estão associados à diabetes, hipertensão, cânceres e doenças cardíacas diversas que, aliás, contribuem para aumentar o risco de vida de quem é infectado pela covid-19.
Tainá Marajoara acredita que é preciso inverter essa situação e que o combate à fome deve se dar prioritariamente com “cestas agroecológicas e pela economia circular dos alimentos locais”.
Além das doações, essas empresas têm promovido alimentos ultraprocessados por meio de um marketing agressivo, fazendo apelos emocionais para sensações de nostalgia e conforto em um momento de crise.
Essa forma de atuação está evidenciada em um relatório produzido pela Global Health Advocacy Incubator, uma ONG internacional que surgiu a partir de mobilizações para regular o tabaco e que atua apoiando organizações da sociedade civil que lutam por políticas públicas de saúde. O relatório foi elaborado com base em uma análise das ações da indústria alimentícia durante a pandemia em 18 países – o Brasil entre eles.
Vivian Mocellin acompanha essa movimentação e vê empresas publicando cada vez mais conteúdos sobre políticas ambientais e compromissos com a sustentabilidade. “Algo que não era tão presente em muitas empresas virou, agora, um discurso de marketing gigantesco”, aponta.

Destruição na carne
A indústria da carne é emblemática do que ocorre nas diferentes etapas de produção do setor alimentício e da relação entre as partes do sistema. A dependência de fornecedores que desmatam não apenas para abrir pastagens, mas, também, para a produção de soja, é enorme.
O relatório da Mighty Eath “The Ultimate Mistery Meat” deixa bem evidentes essas conexões. Fornecedoras como a Cargill, Bunge, ADM e a LDC compram soja produzida pelo agronegócio, associado ao desmatamento de biomas como o Cerrado Brasileiro, a Amazônia e o Gran Chaco Paraguaio.
Essas empresas também estão frequentemente ligadas à exploração do trabalho escravo, como revela o Greenpeace. Metade das denúncias vem do Mato Grosso e do Pará, estados que lideram o desmatamento para plantio de soja.
As colheitas são vendidas para empresas que produzem à base de soja e ou corporações, como JBS e Tyson Foods, que alimentam animais como frangos e gado com rações.
Por fim, a soja chega nas prateleiras de supermercados, como Carrefour e Pão de Açúcar, e nas mãos de empresas de junk food, como Burger King e McDonalds. Todas, evidentemente, se posicionam como socialmente e ambientalmente responsáveis nos relatórios que produzem e nas campanhas de marketing.
Desde 2009, só três frigoríficos assumiram compromisso de não comprar bois de fazendas que causam novos desmatamentos, que usam trabalho escravo ou que estão dentro de terras indígenas, como revela um relatório do Greenpeace.
O mesmo relatório analisou os maiores supermercados do Brasil em um ranking baseado nos seguintes critérios: se a empresa tem uma política de aquisição de carne bovina livre de desmatamento, a qualidade e o rigor dessas políticas e a transparência dos supermercados com os consumidores.
A pontuação máxima do ranking é 100% e entre os supermercados avaliados estavam o Walmart, Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Cencosud. Apesar de todas essas redes se posicionarem como socialmente e ambientalmente responsáveis e três delas terem se comprometido com o desmatamento zero (Walmart, Grupo Carrefour e Grupo Pão de Açúcar), nenhuma chegou perto de atingir essa marca.
Concentração de poder (e de promessas vazias)
Apenas dois conglomerados, a Syngenta-ChemChina e a Bayer Cropscience-Monsanto controlam cerca de 30% do mercado mundial de pesticidas. No setor de máquinas de agricultura, a Deere & Co e a CNH Industrial controlam mais de 36% do mercado mundial.
O mercado de commodities agrícolas também é extremamente concentrado. É estimado que historicamente cerca de 90% do comércio de grãos foi efetuado por apenas quatro empresas conhecidas como o ABCD: ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus. Já no setor de comidas e alimentos, a Anheuser-Busch In-Bev, Nestlé, PepsiCo, JBS e a Coca-Cola são responsáveis por mais da metade do mercado.
Lidamos com um império mundial de empresas. As conexões entre elas são evidentes nas cadeias produtiva e de comercialização, contando ainda com os reforços da mídia corporativa, de ONGs de fachada e de acadêmicos ligados a institutos de pesquisa bancados por corporações.
Esse império tem outro componente que atua em todas as etapas de produção: o setor financeiro. As atividades industriais estão cada vez mais atreladas a ele e isso se aplica ao setor alimentício. O agronegócio, por exemplo, está fortemente financeirizado.
Os investimentos são variados e envolvem múltiplas etapas da cadeia produtiva, incluindo a aquisição de terras para arrendamento, a comercialização de safras, investimentos em empresas de maquinários e insumos e em estocagem de commodities. Essa financeirização é tão intensa em alguns setores que atualmente cada saca de soja gera mais de dez vezes o valor em especulação.
Um relatório publicado este ano revelou a ligação entre empresas de investimento e o desmatamento no Brasil. De acordo com o relatório, 9,3 bilhões de fundos ETF (exchange-traded funds) são investidos em 26 empresas que comercializam soja e estão ligadas ao desmatamento. O relatório também apontou que 70% do mercado de ETFs está nas mãos dos fundos de capital estadunidenses BlackRock, State Street Global Advisors e Vanguard.
O relatório também aponta que até setembro de 2020 essas três empresas haviam se abstido ou votado contra 16 resoluções de acionistas de combater o desmatamento nas cadeias de fornecimento de empresas.
Além do mais, a BlackRock e a Vanguard são as empresas de investimento que mais têm investido em projetos fósseis no Ártico, região extremamente vulnerável aos impactos do aquecimento global. Até março de 2021, a BlackRock havia investido 28,5 bilhões de dólares em projetos de petróleo e gás na região.
Ainda assim, a State Street Global Advisors afirma o compromisso de incorporar critérios ambientais nos portfólios de investimento e a Vanguard anuncia metas de sustentabilidade em seu site, enquanto a BlackRock proclama orgulhosamente que pretende atingir o objetivo de neutralidade de carbono até 2021.
Além disso, mecanismos financeiros que têm sido implementados como soluções sustentáveis são usados como forma de especular e lucrar com o greenwashing. Um exemplo são os créditos de carbono, que têm sido negociados em bolsas de valores.
Os créditos permitem que poluidores comprem esses créditos, emitidos por agentes que supostamente adotaram comportamentos favoráveis ao clima e continuem a poluir. Além de permitir que se pague para continuar poluindo, os créditos são mais uma “solução de mercado” que, ao receber tanto destaque, tira o foco da necessidade de ação coletiva e justiça social e ambiental.
Além do mais, não há nenhum tipo de supervisão global ou padrões comuns em relação aos créditos de carbono, o que na prática permite todo tipo de oportunismo. Recentemente, por exemplo, as gigantes do setor pecuário JBS e Minerva geraram créditos de carbono por meio da RenovaBio, a política do Estado brasileiro para combustíveis.
Assim, apesar da pecuária ser uma das maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil, dois dos maiores frigoríficos conseguiram encontrar uma forma de obter créditos de carbono que podem ser vendidos no mercado financeiro com a produção de biodiesel com o uso do sebo de bois abatidos .
Sem conciliação
Como se vê o greenwashing é uma ótima ferramenta de marketing, mas não resolve a crise climática em que estamos metidos. E o problema não será resolvido com maior fiscalização e implementação de sustentabilidade e responsabilidade social por parte de empresas.
O que está por trás do discurso do desenvolvimento sustentável e do capitalismo verde é uma visão da questão ambiental por um viés neoliberal, no qual a solução se daria pelo mercado e o papel do cidadão é contribuir com essas mudanças por meio do “consumo responsável”, partindo da premissa de que muito do problema passa por escolhas individuais.
Para a ativista Marília Cunha, esse foco no consumo verde “acaba individualizando a responsabilidade e inviabilizando possibilidades que poderiam existir de construção coletiva”.
A lógica do capitalismo pintado de verde é também a lógica colonial, que subalterniza culturas locais, enquanto finge encampar causas. Tainá Marajoara reforça a importância de que as lutas coletivas confrontem também o colonialismo: “O anticolonialismo é imprescindível”, ressalta.
Ela avalia que o capitalismo não apenas destrói o meio ambiente, mas, também, se apropria das culturas e de diferentes formas de existir, inserindo essas culturas na escassez, no extermínio e na aniquilação, principalmente dos povos tradicionais.
Nas palavras de Marília, não existe opção e nunca houve, na verdade. “Se temos um sistema baseado no crescimento infinito em um planeta finito, é apenas questão de tempo até que esse crescimento chegue a um limite e as consequências da destruição ambiental, que têm se tornado cada vez mais evidentes, apontam para esse limite. Surge, então, a necessidade de pensar para além da lógica capitalista”, ressalta.
Para Îagûary, é preciso fazer um esforço para “desvelar esses fantasmas em forma de palavras como desenvolvimento, crescimento, progresso, expansão e melhoria”, termos que são usados como se fossem autoexplicativos e autoevidentes.
De acordo com ela, não é possível sustentar esse modo de produção sem que a mergulhemos em um “abismo de novas doenças, como a covid-19, agora em versão pandêmica, escassez de alimentos, escassez de água potável, escassez de ar respirável e de vida vivível.”
Vivian reforça a urgência dessa questão: “Não dá pra falar em proteção do meio ambiente sem pensar estratégias de decrescimento e de proteção, recuperação dos ecossistemas. Parte desse trabalho é a ideia de desvincular a qualidade de vida ao crescimento econômico.”
Portanto, grande parte do problema não está no tamanho das economias, mas no modo de produção e distribuição pautado pela desigualdade e pela concentração de terras, recursos e poder que as corporações e governos serviçais do poder privado mantêm.
E, por estranho que pareça, há muita resistência a pautas anticapitalistas em parte do movimento ambientalista e em ONGs conhecidas. Vivian conta que encontrou não apenas resistência, mas, também, censura em diversas ONGs. “Você não podia falar de anticapitalismo, você não podia falar de imperialismo. Enfim, de nada”, ressalta.
Para ela, isso é um sintoma da captura do movimento ambientalista pelo capitalismo, que se dá muitas vezes por meio do financiamento de ONGs a partir de organizações “filantrópicas” bancadas por corporações. E, frequentemente, ONGs que eram a princípio mais combativas passam a agir de forma conciliatória quando recebem esse tipo de investimento financeiro.
“E, aí, você não precisa falar muito, né? Que tipo de iniciativa esses caras vão financiar? Eles vão financiar algo que é anticapitalista? De base? Não vão”, adverte Vivian.
Essa captura mostra a importância de reavaliar os termos do debate e da resistência à cooptação não apenas do discurso ambientalista, mas do próprio ambientalismo. Por isso, Vivian Mocellin ressalta a importância da formação política de ambientalistas.
E o argumento dela encontra eco em outras vozes. “É fundamental lutar pela garantia de direitos e o cumprimento das legislações, uma fiscalização ativa, responsável e competente”, enfatiza Tainá Marajoara.


Marília Cunha também fala sobre a importância de apoiar os movimentos de base e de ter a soberania e autonomia como norte, pautando e lutando por políticas públicas, mas apoiando movimentos de base e lutando pela soberania dos territórios.
Ela aponta também a necessidade de dialogar com as pessoas e relacionar as questões ambientais como as mudanças climáticas e o colapso ambiental com as suas experiências, trazendo isso para o dia-a-dia de cada um. “Como é que cada um percebe no seu dia-a-dia e nos seus afazeres, como é que tá chegando, né? Onde é que a corda tá arrebentando?”, indaga.
Falando do contexto brasiliero, Iagûary aponta a necessidade de repensar a atuação das mobilizações dos movimentos ambientalistas para não desperdiçar energia “em labirintos e becos sem saída”.
Ela destaca as mobilizações socioambientais, que foram, em parte, “domesticadas por uma temporada de governos progressistas de esquerda e que, agora, estão [os movimentos] com dificuldades de se organizar e atuar contra um governo de ultradireita, no qual não há abertura para diálogo”.
Para ela, a institucionalidade e o legalismo também são limites que precisam ser pensados, pois são “tão naturalizados que fazem muita gente esquecer que esses sistemas de justiça e essas instituições na forma de Estado não foram construídas coletivamente nem para servir aos debaixo, isso que chamamos de Democracia, Justiça, República, Estado de Direito.”.
E se há muito o que repensar sobre a disputa do ambientalismo e articularmos uma luta realmente emancipatória, há muitas mobilizações que mostram caminhos possíveis.
Entre as mobilizações que têm mostrado caminhos estão as lutas de movimentos populares pela terra, como o MST, e a Liga dos Camponeses Pobres (LCP), que pela ação direta, por meio de ocupações, conquistaram terras para centenas de milhares de famílias, garantindo uma possibilidade de vida digna e de construção da autonomia através da terra e produção de alimentos.
Esses movimentos também têm feito grandes contribuições para a elaboração da agroecologia, que é o estudo e a aplicação de sistemas agrícolas a partir de uma perspectiva ambiental e social, além de terem desempenhado um papel importante no combate à fome durante a pandemia com ações de solidariedade.
As lutas locais de indígenas e quilombolas também têm mostrado caminhos. Temos visto diversas mobilizações de povos originários que lutam pela soberania de territórios e pela autodefesa, assim como pela preservação e resgate de culturas e tradições.
Temos os Mundurukus realizando a auto-demarcação de terras na ausência de ações do Estado e os Tupinambás fazendo retomadas de território dos quais foram expulsos. Enquanto isso, os Ka’apor, Awá-Guajá e Guajajara têm se organizado pela autodefesa e proteção de territórios, ou seja, articulações saídas da autonomia e da autogestão.
Essas lutas estão ligadas à questão alimentar. Enquanto os Kraho buscam preservar as sementes e práticas tradicionais de agricultura, os Guarani-Mbya da aldeia Itakupe, em São Paulo, recuperam uma nascente e constroem lagos para voltar a pescar.
Existem também muitas conexões entre essas diferentes lutas e possibilidade de novas articulações. Vemos, por exemplo, as mobilizações da Teia dos Povos. Fundada na Bahia, mas atuando em outras regiões do país, a teia tem articulado diferentes ações na busca por autonomia e a construção de novos modos de vida, que valorizem a terra o alimento, o olhar ancestral atualizado para novos tempos e a desconstrução da herança capitalista, racista e patriarcal.
A Teia tem construído essas alianças de forma desatrelada da política eleitoral e das instituições do Estado, buscando nesse processo a conquista da soberania alimentar e o cuidado com o território.
O que surge, então, a partir dessas vozes, diálogos e lutas é um grito pela necessidade do ambientalismo se distanciar da lógica do desenvolvimento (ou desenvolvimentismo) sustentável, pautada por um “pseudo-capitalismo socialmente e ambientalmente responsável”.
“Não existe ponto de conciliação entre capitalismo e justiça social, capitalismo e meio ambiente. Capitalismo é igual patriarcado. Não se negocia, não se concilia. Se derruba”, conclui Tainá Marajoara.

