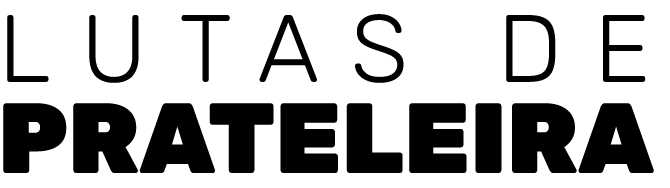
Doações, campanhas publicitárias e programas movidos pela indústria se apropriam de movimentos sociais e vendem a ideia de um “consumo ativista”
Muitas lendas e mitos de um povo indígena estadunidense giram em torno do Kokopelli, um símbolo de cura e fertilidade. No entanto, depois de milênios, restou uma situação bem diferente daquelas pintadas nas cavernas. O bonequinho de Kokopelli, com um saco nas costas e uma flauta na mão, virou personagem de chaveiros, almofadas e outros itens de prateleira.
Assim como esse símbolo, outras culturas, identidades e causas são apropriadas a todo momento pelo mercado. As corporações de alimentos e bebidas atualizam portfólios na mesma velocidade em que exploram funcionários, com novos produtos e campanhas que prometem a “revolução pelo consumo”. Essas estratégias da indústria, que se apropriam de causas e histórias legítimas, estão no centro desta série de O Joio e O Trigo.
Segundo a instituição britânica que conecta empreendedores e investidores de startups do setor alimentício, a The Food Tech Matters, o mercado das food techs deve atingir o valor global de R$ 980 bilhões até 2022.
No Brasil, a aceleradora Liga Ventures identificou 332 startups que estão “entregando valor para a cadeia de alimentação” em 16 categorias diferentes. Entre elas: informação e orientação; gestão do varejo e canais de venda e promoção.
O interesse por atualizar a maneira como se apresentam à sociedade caminha lado a lado das predisposições do mercado global. Nas palavras de Rosa Wanda Diez Garcia, autora do artigo “Reflexos da globalização na cultura alimentar: considerações sobre as mudanças na alimentação urbana”, embora nos países mais pobres essas tendências de consumo estejam distribuídas diferentemente nas classes sociais, “no plano simbólico, os desejos de consumo por si só marcam uma inclinação a esse perfil alimentar”.
E despertar desejos no simbólico, pelo valor agregado à mercadoria, é a especialidade da Fazenda do Futuro, que cumpre a tarefa de inovar o discurso com excelência. A food tech fabrica produtos à base de plantas que prometem textura, suculência e “gosto de animais”, e é a primeira empresa brasileira no ramo de “carnes” vegetais.
“Nós acreditamos que inovação, sabor e sustentabilidade coexistem para que novas possibilidades de consumo consciente sejam reais e deliciosas”, diz o site da empresa.
No entanto, quando buscamos os ingredientes do carro-chefe, o hambúrguer, descobrimos que um dos principais constituintes é a boa e velha soja. O conjunto de ingredientes, somado ao modo de produção industrial, joga luz a uma questão inconteste: o futuro tem mais do passado do que a embalagem mostra.

Mudanças “por dentro”
O estudo conduzido pela investidora BlackRock e a consultoria Bain e Company, “Panorama do ecossistema de startups no Brasil – rumo à diversidade racial”, evidencia o interesse do capital financeiro pela inclusão racial nos organismos corporativos. De acordo com o documento, entre 2016 e 2019, houve um crescimento do número de startups no Brasil de 218%. “Fundos de VC [Venture Capital] nacionais já sinalizaram a intenção de triplicar a atuação na área nos próximos cinco anos e grandes players que fizeram captações recentes ainda dispõem de montantes relevantes para desembolsar”, declaram.
“A baixa diversidade racial no ecossistema de startups pode levar à perda de oportunidades relevantes. No ambiente corporativo, maiores índices de diversidade já foram correlacionados com resultados melhores a partir de diferentes ângulos”, prossegue o estudo.
Estamos trazendo esses dados porque o mercado financeiro detém um poder central na formação de hábitos de consumo, mas o que é menos óbvio é a maneira como engendra o sistema, ou seja, como uma dúzia de homens brancos engravatados gerencia o capital mundial e abre uma nova linha de consumo, por exemplo, a dos produtos plant-based.
Para compreender o funcionamento dessa teia de instituições, vamos olhar para a Black Rock, a maior gestora de capital no mundo com tentáculos espalhados em vários países. Ela presta serviços de soluções em investimentos, gestão de riscos, acesso a créditos e aconselhamento a investidores institucionais e individuais.
Instituições como essa têm o poder de determinar se é o arroz ou o macarrão a figurar no prato. Também influenciam quais causas serão apropriadas pelas multinacionais e startups. Essas últimas são financiadas pelos fundos de Venture Capital, que, em linhas gerais, são ações de investimento em negócios de alto potencial de crescimento, mas que apresentam um grande risco ao investidor ou a um grupo deles.
O mercado financeiro é aquele primo de quem pouco se sabe, mas que aparece de vez em quando no churrasco da família ditando as regras do fogo e administrando a cerveja no freezer. O Joio trouxe essa discussão sobre o “ativismo societário” e as mudanças “por dentro” dessas estruturas financeiras. Há, de um lado, quem acredite que essas transformações estruturais precisam de atores tão grandes quanto o “mercado” para que de fato ocorram; e, de outro, quem vai pela via da regulação pública, que pode – e deveria – limitar o poder dessas corporações nos territórios e fortalecer a produção de alimentos localmente, por exemplo.
Decifra-me ou te devoro
“Vender algo imaterial, um sentimento, uma sensação, é mais engajador do que vender um líquido preto numa garrafa”, lembra o publicitário e estrategista de campanhas Guilherme Borducchi. Em entrevista para a nossa reportagem, ele contou que usar o argumento de “venda ativista” é o que dá força à publicidade, que tenta passar a ideia de que o consumo pode ser transformador de realidades.
Os desejos de compra têm sido cada vez mais alavancados também por uma captura das identidades dos consumidores, que o velho Marx (1818-1883) caracterizou como fetichismo da mercadoria. São propagandas em que a empresa se coloca lado a lado do entregador, da população negra, das pessoas LGBTQIA+, das mulheres, e diz: “essa marca está aqui por você”.
“Você começa a parear essa questão de diversidade, felicidade, amizade, aceitação e amor entre as pessoas, com a marca”, diz Lucas Napolitano, psicólogo pós-graduado em marketing, com larga experiência em mídia digital e análise de dados em agências de publicidade. Ele garante que, na prática, a psicologia não tem nada a ver com as estratégias com as quais trabalhava.
Napolitano considera que “as coisas em marketing são muito mais impulsionadas por desejos financeiros das agências e das carreiras dos executivos”. Ele explica que as campanhas geralmente não são feitas a partir de uma análise criteriosa do perfil dos consumidores e também nem sempre objetivam impulsionar as vendas.
Segundo ele, a prioridade é a construção da imagem pública de empresas ou de uma determinada marca, que, inclusive, buscam encobrir políticas colonialistas e intolerantes, muitas vezes só expostas da porta para dentro. A essas estratégias de mercado podemos dar o nome também de socialwashing.
“É mais uma questão de mediar a imagem da empresa como um todo em relação ao público consumidor, à sociedade, aos governos, do que uma estratégia que realmente impulsiona venda e dinheiro”, diz.
Conforme Napolitano, o jogo de abraçar as causas é mais político do que financeiro. Porém, é indispensável lembrar que “o político financeiramente se paga em longo prazo”, lembra o estrategista.
O lucro pode não ser imediato, mas pode se dizer que não há aposta que intenciona a perda. A reconstrução da imagem do iFood nos últimos meses é um bom exemplo, já que, no início da pandemia, o breque dos aplicativos provocado pela violação de direitos trabalhistas dos entregadores mostrou que o modus operandi desses empreendimentos provoca a precarização sistemática do trabalho.
Napolitano explica que esse tipo de publicidade é mais uma manobra para evitar julgamentos nos tribunais. “Se eles [o iFood] botam dinheiro para caramba em um meio de comunicação para fazer uma campanha, eles tanto mediam com o público em geral a percepção negativa que a empresa tem como comprometem também os veículos de comunicação”, explica. Ou seja, é um investimento para a manutenção da ordem, uma ressignificação da luta dos entregadores, pintados na caverna, em uma mercadoria veiculada em horário nobre da televisão.
O vídeo do iFood tentou limpar a imagem desfavorável da empresa, principalmente depois que a precarização dos entregadores ficou evidente no início da pandemia.
Jef Martins é o diretor de comunicação e impacto social da Leo Burnett Tailor Made, uma das maiores agências de publicidade de São Paulo. Para ele, o lucro não é uma questão cartesiana e diz que a indústria tende a investir e trazer as pessoas que representam os movimentos para dentro dos negócios, assim pode antecipar um problema de imagem no futuro. “Ao mesmo tempo, quando você se posiciona no mercado sobre algum assunto, você está de alguma forma se apropriando daquele assunto”, destaca.
Apropriação, para o professor e pesquisador de estudos retóricos, estudos culturais e crítica da mídia da Northern Arizona University (NAU) Richard Rogers, refere-se a “qualquer instância em que um grupo toma emprestado ou imita as estratégias de outro – mesmo quando a tática não se destina a desconstruir ou distorcer os significados e experiências desse outro”.
Rogers elaborou o conceito de quatro tipos de apropriação, que apresenta no artigo “From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation” (Do intercâmbio cultural à transculturação: uma revisão e reconceituação da apropriação cultural, em tradução livre):
1. TROCA CULTURAL: a troca recíproca de símbolos, artefatos, rituais, gêneros, e/ou tecnologias entre culturas com níveis aproximadamente iguais de poder.
2. DOMÍNIO CULTURAL: o uso de elementos de uma cultura dominante por membros de uma cultura subordinada em um contexto em que a cultura dominante foi imposta à cultura subordinada, incluindo apropriações que promulgam resistência.
3. EXPLORAÇÃO CULTURAL: a apropriação de elementos de uma cultura subordinada por uma cultura dominante sem reciprocidade substantiva, permissão e/ou compensação. A cultura subordinada é tratada como um recurso a ser ‘‘extraído’’ para consumo.
4. TRANSCULTURAÇÃO: elementos culturais criados a partir de e/ou por múltiplas culturas, de modo que a identificação de uma única cultura originária é problemática, como exemplo, múltiplas apropriações culturais estruturadas na dinâmica de globalização e capitalismo transnacional criando formas híbridas.
Fonte: ROGERS, Richard. From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation.
A apropriação é moldada pelos contextos sociais, políticos e econômicos e não questiona os impactos que essa tomada de símbolos pode ter na vida de um coletivo. “Atos de apropriação e suas implicações não são determinadas pela intenção ou consciência daqueles envolvidos em tais atos”, afirma o professor.
Contudo, é sempre sob o manto de boas ações que as corporações de alimentos surfam nas ondas. A indústria, ao explorar as pautas sociais, pasteuriza a luta dos movimentos que têm especificidades de identidade e expressão. “A publicidade é muito eficiente em te contar um pedaço da história, um pedaço certo, te apresentar do jeito certo, com o recorte certo”, avalia Guilherme Borducchi. “Acredito que esse é o grande trunfo, a publicidade consegue mapear as dores e falar: eu tenho a solução concreta para essa dor, a pílula mágica”.
Regra de ouro
Ao relembrar os tempos de agência, Napolitano salienta que “sempre tem pressão de cima para você maquiar [os dados de uma campanha] e é sempre uma pressão política muito forte”. Por isso, a regra de ouro é não botar todos os ovos numa cesta só. E isso a indústria tem feito muito bem: não apostar em uma só pauta para não deixar ninguém de fora da festa.
A exploração – uma vez que há o exercício de poder entre corporações versus movimentos sociais, sendo estes explorados para fins comerciais – se expressa de diferentes maneiras, seja em uma campanha pontual ou permanente, seja em ações de doação ou apoio a determinados projetos sociais. À medida que a necessidade faz o sapo pular, a indústria dispõe de “mantras” que maquiam o verdadeiro impacto social, político e econômico da produção industrial na cadeia dos alimentos.


Ambev e Coca-Cola são bons exemplos de corporações que exploram eficientemente todas as pautas em voga. Ao mesmo tempo em que anunciou um programa para combate à violência doméstica, a gigante das cervejas produziu, em março deste ano, especialmente para surfar na onda do Dia Internacional das Mulheres, uma campanha que leva o nome “Cervejeira sou eu”. Não custa lembrar que a Ambev é a mesma fabricante de marcas que produziu publicidades machistas icônicas da televisão brasileira.
A Coca não fica atrás, ela é a maior poluidora de plástico do planeta, segundo os relatórios do movimento internacional Break Free From Plastic. Mas, no início da pandemia, colocou-se “lado a lado” dos trabalhadores da sua cadeia de produção, como os catadores de materiais recicláveis, e anunciou ajuda financeira à categoria sob o slogan “estamos nessa juntos”. A dona de 25 marcas no mercado brasileiro fez, também durante a pandemia, um vídeo no qual Djonga, homem negro e um dos nomes mais influentes do rap brasileiro, é o responsável pela narração
A dona de 25 marcas no mercado brasileiro explora a imagem de Djonga, rapper que representa a resistência cultural e política do povo negro e periférico.
Quem vê o vídeo com produção cinematográfica pode não imaginar que um dos fornecedores de suco de laranja da Coca-Cola mantém trabalho escravo nas plantações, como mostrou o relatório “Por trás das cenas da indústria do suco”, da Christliche Initiative Romero, uma associação alemã que apoia iniciativas de promoção dos direitos humanos na América Central.
O artigo de Richard Rogers afirma que essa representação de valores faz com que a mercadoria se torne o meio de obtenção dessa “moral”. “Isso aumenta a ilusão de que a mercadoria é ‘intrínseca’ e serve para mistificar as relações sociais envolvidas na produção e consumo. Ao obscurecer as condições e relações de produção com significados fetichizados, os consumidores não se deparam com a consciência de sua participação na exploração do trabalho, cultura e identidade de terceiros.”
As corporações perceberam que, sem implementar ações de diversidade, de causas ambientais e sociais, não há cenário possível para sobreviverem. Para Jef Martins, “você ganha pontos a mais em processos de concorrência se você tem um programa [de diversidade] estabelecido. Então, começou a se perceber que, além da questão social – que é importante –, é uma questão de negócio. E ninguém quer perder negócio hoje em dia”.
“Existem empresas que identificam primeiro qual é o assunto mais necessário dentro do negócio, por meio de um senso interno ou da análise de uma questão. Por exemplo, uma loja ou um negócio de varejo que tem problemas com casos de racismo de um segurança”, explica Martins, que nos remete a uma situação inesquecível – e trágica.
Depois do assassinato do prestador de serviços João Alberto Freitas, em novembro de 2020, o Carrefour não mediu esforços para provar que é uma corporação “do bem”. A empresa anunciou a criação do Comitê Externo de Livre Expressão sobre Diversidade e Inclusão e do Fundo de Diversidade e Combate à Discriminação Racial. Uma recente publicação da Ponte Jornalismo, no entanto, mostrou que os investimentos do Grupo seguem uma lógica privatista, enquanto doação, e não como reparação, o que permite que a empresa deduza o valor de R$ 115 milhões no Imposto de Renda.
Mas não é de hoje que o Carrefour vem apostando em outras frentes de exploração. Espalhando os ovos em várias cestas. Entre elas, a frente ambiental, a LGBTQIA+ e até a antiespecista. “Socialmente, ela [a empresa] é mais cobrada por aquilo que vem à tona. O iceberg tá ali, mas a ponta foi aquela”, diz Jef Martins.

Apelar para os afetos é uma tática quase infalível. E o líder do mercado de distribuição de alimentos no Brasil investe nisso. Quando se espalharam pelo território nas décadas de 1950 e 1960, os supermercados se posicionaram como um espaço de acolhimento da família e, principalmente, da mulher. Com o passar do tempo, mudam-se os formatos, mas não os objetivos. “A estética, a apresentação, a maneira como aquilo vem colocado, impacta muito mais do que o resto”, lembra Lucas Napolitano.
Para o analista, as publicidades embriagadas por uma produção cinematográfica tem mais a ver com os desejos de construção de portfólio dos profissionais das agências e da mediação da imagem da indústria. “A agência sempre vai tentar empurrar a campanha que é premiável”, comenta. Porém, óbvio, elas só passam depois que todas as metas de vendas já estiverem batidas.
Com uma pitada de produção cinematográfica, a história da “menina Carrefour”, que nasceu em frente ao supermercado, virou oportunidade de marketing para a corporação.
Tem alguém ouvindo?
Guilherme Borducchi explica que essas corporações vêm, há muito tempo, seguindo a tendência de uma antecessora, que abriu o caminho das pedras: a indústria do cigarro. Os canais, na era das redes sociais, ficaram mais difusos, mas não menos demandados: a repercussão na internet é um dos maiores termômetros de sucesso ou fracasso de uma campanha ou de um novo produto. “A indústria, principalmente a de ultraprocessados, sabe que não vai dar mais pra vender esse produto por muito mais tempo, como ocorreu com o cigarro. Então, ela está usando esses canais de escuta”.
Nesse sentido, Jef Martins analisa que “na hora de definir qual a mídia em que vai chegar essa campanha, na internet, por exemplo, ou na mídia programática, se você deixa na bolha [social] que já tá bem com isso, você só está querendo confete”. Em linhas gerais, a mídia programática é o espaço de anúncios para um público-alvo definido por um sistema digital. São aquelas publicidades sedutoras que aparecem ocupando metade da tela na maioria dos sites.
Contudo, para além do retorno que chega pelas redes e pelos algoritmos dos sites, existem os laboratórios de inovação social que articulam, conforme o site do Novos Urbanos, “diálogos transetoriais entre atores divergentes em busca de convergência de ação”. Trocando em miúdos, Coca-Cola, Pepsico, Nestlé e outras corporações financiam o laboratório Novos Urbanos para saber o que nós, consumidores, estamos pensando.
Esses laboratórios funcionam como um canal de escuta para captar tendências que estão circulando no mercado e como um espaço de testes práticos para solucionar problemas reais.
Outros canais, como o Trendwatching, operam na mesma lógica de inspirar empresas a inovarem nos negócios, indicando tendências globais. Porém, Martins explica que surfar em uma onda momentânea não segura uma imagem positiva da empresa. A exploração precisa ser completa, inclusive trazendo a comunidade para perto.
Em Um feminismo decolonial (Editora Ubu, 2020), Françoise Vegès diz que “não devemos subestimar a velocidade com que o capital é capaz de absorver certas noções para transformá-las em palavras de ordem esvaziadas de seu conteúdo”. Isso porque, “qualquer identidade minoritária pode ser integrada desde que seja comercializável.”
A exploração corporativa das lutas sociais é realizada a partir da noção de mudança de mentalidade. Porém, não é possível mudar uma sociedade sem o fim das estruturas opressivas nas quais esses movimentos foram constituídos.
Nas próximas reportagens deste especial do Joio, vamos abordar algumas das explorações mais emblemáticas das corporações de alimentos e bebidas nos últimos anos.

